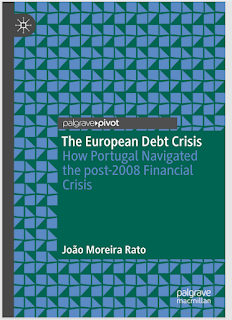Fiel à sua linha editorial imperial-liberal, segundo a qual tudo o que os EUA façam é bem feito, o Público assinala o dia da retirada final do Afeganistão com um artigo de opinião, logo na página 3, da autoria de um professor norte-americano de relações internacionais bem posicionado. As hostes precisam de ser animadas, afinal de contas.
terça-feira, 31 de agosto de 2021
Os EUA continuam a ser um perigo
Fiel à sua linha editorial imperial-liberal, segundo a qual tudo o que os EUA façam é bem feito, o Público assinala o dia da retirada final do Afeganistão com um artigo de opinião, logo na página 3, da autoria de um professor norte-americano de relações internacionais bem posicionado. As hostes precisam de ser animadas, afinal de contas.
Os bastidores da democracia
João Moreira Rato, ex-presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), escreveu recentemente um pequeno livro onde descreve o seu papel, e do instituto a que presidiu, durante o período da troika. É um livro que nos permite observar, na prática, os bastidores de alguns mecanismos do “projecto de reversão da social-democracia e de imposição da disciplina de mercado ao Estado” que é o Euro.
Dois episódios curiosos, onde essa imposição foi mais visível e pessoal, ocorreram no seguimento da crise política provocada pelas demissões de Vítor Gaspar e Paulo Portas, uma mais irrevogável que a outra. Assim descreve João Moreira Rato o dia seguinte (tradução minha):
“A 3 de julho, no dia seguinte, a Delloite organizou uma gala [...] Assim que entrei [...] fui abordado por um membro de uma família que detém algumas empresas importantes em Portugal. Ele queria expressar o seu descontentamento relativamente ao que tinha acabado de acontecer na frente política, condenando principalmente o comportamento do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uma das suas empresas estava a considerar uma possível transação, que ele referiu só ser possível graças ao nosso trabalho. E agora estava tudo em suspenso. Ele referiu ainda que estava muito aborrecido com o facto de manobras políticas estarem a estragar o que tinha sido conseguido. Nessa altura percebi que haveria uma pressão imensa para que o líder do segundo partido da coligação regressasse ao governo. Nós costumávamos comentar entre nós que pela primeira vez na história recente de Portugal, os políticos estavam a começar a ver as suas ações avaliadas pelo mercado.”
Passados alguns dias foi a vez de António José Seguro sentir a pedagogia patriótica do mercado:
“A 12 de julho, para piorar ainda mais a situação, o líder do partido da oposição, o Partido Socialista, defendeu no parlamento a restruturação da dívida; isto provavelmente explica em grande medida o pico das taxas de juro desse dia. Nesse dia concordámos no IGCP que faria sentido fazer algum trabalho pedagógico com o partido da oposição. Pouco depois contactámos um dos membros do partido responsável por assuntos orçamentais. Na nossa primeira reunião expliquei-lhe como nós andávamos a dizer aos investidores que o seu partido era pró-Europeu. Estava errado? Expliquei-lhe em detalhe como tínhamos pensado a nossa estratégia de mercado e os benefícios que esta traria para o país. Tenho que dizer que, a seu tempo, eles desempenharam um papel patriótico ao moderarem o seu discurso, sobretudo em reuniões com investidores. Assim como nós sentimos a necessidade de os contactar, também investidores o fizeram. Uns meses depois, o líder do partido da oposição fez um discurso na London School of Economics. Após esse discurso, eu visitei investidores em Londres. Um deles, um economista de um grande fundo de investimento dos EUA, tinha ido ouvir o discurso. Perguntámos-lhe como tinha sido. O investidor disse-nos que tinha sido bastante normal. O líder da oposição tinha dito todas as “coisas certas” e o investidor tinha saído de lá bastante confortável. Nós também saímos da reunião bastante confortáveis”.
domingo, 29 de agosto de 2021
Sobre mais um discurso
Eu bem sei que para a social-democracia nacional será um dia mais fácil pensar no fim do PS do que no fim da UE, mas é simbolicamente de bom gosto desde já a omissão de bandeiras do império liberal no final do seu congresso.
O que dizer então do discurso final de António Costa que já não tenhamos dito sobre o de abertura?
Em primeiro lugar, no quadro da campanha das autárquicas, saudou a perigosa descentralização de competências nas áreas da saúde, educação e apoios sociais. Perigosa, porque pode aumentar as desigualdades de acesso aos, e de qualidade nos, serviços públicos. Os sinais ainda antes da pandemia eram já preocupantes. Não me esqueço, por exemplo, que municípios mais ricos, como Lisboa, começaram em primeiro lugar com os manuais escolares gratuitos.
Em segundo lugar, voltou a insistir na versão social-liberal da economia da oferta, em estilo Agenda de Lisboa recauchutada, à boleia dos fundos europeus. O mesmo das últimas décadas para os mesmos resultados medíocres de sempre. A educação e a ciência até podem ser fins em si mesmos, mas não são por si só, longe disso, meios para a transformação estrutural associada ao desenvolvimento, sobretudo num contexto de ausência de instrumentos relevantes de política económica.
Em terceiro lugar, voltou a insistir na habitação e no trabalho digno para os jovens. Falou da nova geração de políticas de habitação, mas não referiu os resultados medíocres obtidos até agora. Falou da exigência nas condições de trabalho, mas continuou a nada dizer sobre a herança da troika. Repetiu intenções vagas sobre plataformas e trabalho temporário, remetidas para as catacumbas da concertação social.
Em quarto lugar, sublinhou a fatia de leão que vai para as empresas no quadro macroeconomicamente modesto de um PRR com condicionalidade e que não vai suportar tanta expectativa defraudada. António Costa ainda pode vir a ter tempo político para se arrepender dos anúncios de um novo mundo à boleia da suposta generosidade de estranhos. Perdoem-me o cepticismo, mas nunca ninguém se desenvolveu assim.
Em quinto lugar, anunciou mais uma ou outra medida pequenita, na lógica das deduções fiscais quase sempre regressivas, que não substituem apostas na provisão pública sempre progressiva, por exemplo, no ensino pré-escolar.
Em sexto lugar, fartei-me. Desculpem.
sábado, 28 de agosto de 2021
Sobre um discurso
Estive a ouvir o discurso de abertura de António Costa no congresso do PS. Ao contrário dos hábitos preguiçosos do inenarrável comentário televisivo imediato (TVI-24), é preciso levar a sério o que diz.
sexta-feira, 27 de agosto de 2021
A direita não gosta que lhe cortem os cortes
De facto, e ao contrário da ideia que se tenta passar, o que está em causa não é uma suposta elevação sem precedentes dos níveis de emprego público, mas antes a recuperação gradual - iniciada pela maioria parlamentar de esquerda na anterior legislatura - dos cortes brutais nos recursos humanos da administração pública feitos pela maioria PSD/CDS-PP, a tal que quis ir «além da troika», entre 2011 e 2015. Isto é, uma redução, em apenas quatro anos, de cerca de 70 mil trabalhadores em funções públicas, que se traduz numa quebra a rondar os -10%. E sendo que, em termos de peso relativo no total do emprego, o valor atual (15,2%) está em linha com o registado em 2011 (15,4%).
Quando se olha de forma séria para os números, o que se constata é de facto uma reposição do volume de emprego público continuamente registado desde 2000 (e até 2011), a rondar os 700 mil trabalhadores (e mesmo assim comparativamente abaixo da média europeia, repita-se), pondo fim à devastação provocada entre esse ano e 2015, com impactos claros na degradação do acesso e qualidade dos serviços públicos (e nomeadamente dos que mais contribuem - como é o caso da saúde, educação e proteção social - para uma maior inclusão e redução das desigualdades). Aquilo de que a direita se queixa é pois, na verdade, de lhe «cortarem os cortes» que fez (como sucede por exemplo, a par da redução do emprego público, nos orçamentos da saúde e da educação).
Querido diário - Não aprender...
A 7 de Outubro de 2001, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram um imenso ataque ao Afeganistão sob o lema "vão pagar" pelo que fizeram. O ataque, como explicou o famigerado secretário de estado da Defesa dos Estados Unidos Donald Rumsfelt, era apenas a primeira fase que era suposto durar semanas... Encostados à parede pela imensa novidade que tinha sido um atentado terrorista em pleno coração dos Estados Unidos, a 11 de Setembro, os "aliados" - designação repescada da guerra ao nazismo - alinharam numa estratégia que tinha tudo para correr mal, ser ineficaz e contraproducente, ao deitar gasolina na fogueira dos conflitos no Oriente. Toda a Europa reagiu em uníssono. E pagou o preço.
Mesmo os nossos socialistas - que deveriam ter uma enorme precaução - solidarizaram-se com os ataques. Guterres, hoje secretário-geral da ONU, aparece muito pungido com as mortes provocadas por mais duas bombas em Cabul. Em 2001, apesar de sublinhar que não se tratava de uma "guerra de civilizações", mas sim ao terrorismo, Guterres não deixou, contudo, de alinhar numa estratégia que - era evidente - pouco iria ganhar ao "terrorismo" e que iria, sobretudo, provocar fortes reacções e solidariedades com os países invadidos e atacados.
Os ataques ao Afeganistão pelas forças que são a espinha dorsal da NATO, mas sobretudo a invasão do Iraque em 2003 estiveram, na verdade, na base de uma escalada de operações terroristas nos países ocidentais observada pela Europol. E sem fim à vista. O democrata Biden respondeu ao deflagrar das duas bombas em Cabul ("vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar") tal
como republicano Bush reagira aos ataques em solo dos Estados Unidos ("vão pagar"), o
que indicia que algo muito mais poderoso marca a política naquele país. O terrorismo passou a ser um dos elementos necessários para justificar
políticas predatórias imperiais, com o devido apoio ou suporte popular,
gerado pela eterno estado de emergência justificado pelo fenómeno do terrorismo. O terrorismo gera terrorismo. E à pala do seu combate, invade-se e toma-se. E muito haveria a dizer sobre a própria criação e financiamento de organizações terroristas.
A triste retirada do Afeganistão 20 anos depois deveria dar que pensar aos povos dos países invasores para que, de futuro, impeçam novos ataques. Mas tudo leva a crer que pouco se aprendeu.
Do mesmo modo, muito da nossa comunicação social deveria aprender com o passado. Em 2001, a comunicação social embarcou na invasão (veja-se como exemplo o editorial do jornal Público, a cuja direcção editorial pertencia na altura o actual director Manuel Carvalho). Passados 20 anos, poucas lições se estão a retirar dos novos factos. E no entanto, tanto haveria para dizer. Talvez um pedido de desculpas, não é...?
O que acontece a quem fica sem empresas públicas
Enquanto por cá a Ryanair continua a habitual política de comunicação selvagem contra uma concorrente sua, a TAP (e sempre com todo o tempo de antena disponível), no Reino Unido acaba de cancelar repentinamente todos os voos para a Irlanda do Norte, porque o governo não cedeu à chantagem sobre a cobrança de uma taxa.
Imagine-se o que seria de um dia para o outro termos interrompidas as linhas aéreas da Madeira e Açores por divergência, em matéria fiscal, de uma operadora em posição dominante e que tudo faz para eliminar a concorrência. Agradecemos à Ryanair por todos os dias nos relembrar porque devemos ter uma companhia pública.
quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Querido diário - Quando a RTP era para ser privatizada e a RTP2 ia para o lixo
A Ordem do Dia
«A 20 de fevereiro de 1933, 25 industriais e banqueiros encontraram-se com Hitler, que precisava de dois terços do parlamento para aprovar a Lei de Concessão de Plenos Poderes. A reunião foi na residência oficial do Presidente do Reichstag, Hermann Göring. Éric Vuillard descreve-a, em «A Ordem do Dia»: «O essencial da mensagem cingia-se a isto: era preciso pôr termo a um regime fraco, afastar a ameaça comunista, suprimir os sindicatos e permitir que cada patrão fosse um Führer na sua empresa». O objetivo não era a subversão do sistema, era o de salvaguardar o que interessava no sistema: a prosperidade daquelas respeitáveis fortunas.
Depois da saída de Hitler e do discurso de Göring, Hjalmar Schacht sorriu e rematou: «E agora, meus senhores, é passar à caixa!». A fina flor da finança e da indústria alemã ofereceu, naquele dia, dois milhões de marcos à campanha de Hitler. E quem ali estava não eram aquelas pessoas. Eram empresas que hoje são motores da economia alemã e europeia. E que não se limitaram a ajudar Hitler a chegar ao poder, lucraram com a exploração do trabalho dos campos de concentração.
Hitler não foi o chefe de um grupo de lunáticos que assaltou o poder, contra a vontade da elite. Foi a solução de recurso dessa elite. Em todas as outras vitórias da direita autoritária, mesmo que menos extremas, acontece o mesmo. Instalou-se uma associação automática entre capitalismo e democracia e, de forma ainda mais ousada, entre capitalistas e democracia. Haverá, na elite económica, quem tenha mais ou menos amor à democracia. Haverá muito poucos para quem esse amor supere o apego aos seus próprios interesses. E há momentos da história, que nem são excecionais, em que a democracia e a liberdade são suas inimigas. Interessa-lhes na medida em que lhes serve, dispensam-nas na medida em que são um empecilho. Precisam do Estado para impor as suas «reformas», defender os seus negócios e a sua propriedade e reprimir as veleidades democráticas do povo. Dispensam o Estado quando ele limita o seu poder. Haveria, entre os industriais que financiaram a entrega do poder absoluto a Hitler, alguns nazis. Outros tratavam apenas da «ordem do dia». Muitos seriam antissemitas, mas todos perceberiam a vantagem de ter um agitador que apontasse o dedo para bem longe deles.
Têm saído notícias sobre empresários já com algum peso a financiar o Chega. É natural e acontece com quase toda a extrema-direita por esse mundo fora. O Chega é muitas vezes apresentado como antissistémico, mas se assumirmos que o sistema é, antes de tudo, o económico, é um reforço musculado do sistema. Se o Chega crescer, outros, talvez mais «respeitáveis», irão seguir-lhes o exemplo. Reductio ad Hitlerum? Não estou a dizer que Ventura é nazi. É mesmo só oportunista. Estou a dizer que a sua função, para esta elite, é a de sempre. Como escreve Vuillard, no fim do livro: «Não se cai duas vezes no mesmo abismo. Mas cai-se sempre da mesma forma, com uma mistura de ridículo e de pavor. (...) O abismo está rodeado de moradas imponentes».
Daniel Oliveira, A Ordem do Dia
quarta-feira, 25 de agosto de 2021
Dos «funcionários públicos a mais» e do «Estado como despesa»
Até custa ter que lembrar a António Saraiva que nesse tempo, em que «tínhamos um império e as colónias», o país não dispunha, entre outros serviços públicos fundamentais, de um SNS e de uma Escola Pública que permitiram, por exemplo, que a taxa de mortalidade infantil passasse de 55,5 para 2,4 óbitos por mil nascimentos (entre 1970 e 2020); a esperança média de vida à nascença subisse de 74 para 81 anos, ou que a escolarização no secundário passasse de 3,8% para 81,5%. Mudanças abissais - e com ganhos incomensuráveis para as empresas, já agora - que não teriam sido possíveis sem estruturar, à escala nacional, e entre outras áreas da ação pública, uma rede concelhia de estabelecimentos de ensino e de saúde de diferentes níveis, providos com os respetivos recursos humanos.
Já menos estranho é, contudo, que o presidente da CIP não resista a veicular de novo, nas suas declarações, duas ideias recorrentes em que a direita há muito insiste. Por um lado, a ideia de que a despesa pública é um gasto perdulário e não um investimento (como se o Estado não fosse, também ele, economia) e, por outro, a ideia de que Portugal tem «funcionários públicos a mais», um mito que a comparação à escala da UE deita por terra (e que foi responsável por um emagrecimento cego da função pública nas últimas décadas e pela falta de renovação dos seus quadros).
A propósito dos investimentos no âmbito do PRR, é aliás pena que António Saraiva não tenha tomado boa nota das recentes declarações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a assinalar o facto de, «em termos de recursos humanos a Administração Pública estar desfalcada», tendo sido «esticada até ao limite» e se encontrar «muito debilitada por causa da pandemia».
terça-feira, 24 de agosto de 2021
sábado, 21 de agosto de 2021
Censos, alojamento local e crise de habitação (II)
De facto, e considerando para o efeito as freguesias do centro da capital com mais de 1.000 unidades de alojamento local (e que concentram cerca de 77% da oferta na cidade em 2021), constata-se que o declínio é constante e que as maiores perdas, de população e famílias, neste universo, se verificaram sobretudo na década de 80, atenuando-se nas décadas seguintes (com a exceção da variação do número de famílias entre 2011 e 2021, a rondar os -11%, superior à redução registada entre 2001 e 2011, em cerca de -5%).
Ainda assim, observa-se também que são as duas freguesias com maior incidência de alojamento local (Santa Maria Maior e Misericórdia) - e que detém quase metade da oferta de AL em 2021 (43%) - que registam quebras de população e de famílias mais expressivas (acima de -20%), com os valores para o conjunto de freguesias considerado a não ultrapassar os -11% e -7% (famílias e população), e as médias para Lisboa, nestas variáveis, a rondar os -1%.
Importa contudo assinalar que, quando comparado com a «população» e as «famílias», o número de «alojamentos» constitui uma variável mais fina para aferir o impacto do alojamento local na estrutura residencial do centro das cidades. Porquê? Porque ao contrário dos processos de gentrificação, em que pode apenas estar em causa, de um ponto de vista estatístico, a «substituição» de população e de agregados familiares (sempre que se trate de nacionais), o alojamento local implica necessariamente, pela sua própria natureza, uma supressão na oferta de habitação, dado que as respetivas unidades deixam de ser contabilizadas como alojamentos para fins residenciais.
Ora, quando analisamos a evolução intercensitária do número de alojamentos, constatamos que - sobretudo nas freguesias com maior incidência de alojamento local - as perdas registadas entre 2011 e 2021 são as mais significativas das últimas quatro décadas, interrompendo inclusivamente, em alguns casos, dinâmicas recentes de aumento da oferta de habitação. É isto que se verifica no caso da freguesia de Santa Maria Maior (-29%) e da Misericórdia (-18%), ambas situadas no centro e coração turístico da cidade. E é também esta a tendência que se regista, ainda que em menor grau, no centro histórico e na própria cidade de Lisboa, como mostram os gráficos seguintes.
Como referido no post anterior, o alojamento local é apenas uma das vertentes de um processo bem mais vasto e complexo, relacionado com os impactos, ao nível da oferta e do acesso à habitação, decorrentes da intensificação do turismo, da gentrificação do centro das grandes cidades e do fomento do investimento estrangeiro no setor imobiliário. Mas no que respeita a esta vertente, do alojamento local, os primeiros dados dos Censos de 2021 não parecem de facto deixar muita margem para a dúvida sobre o seu contributo para a crise de habitação que estamos a atravessar.
sexta-feira, 20 de agosto de 2021
Nós, vós, eles
Não consigo deixar de ficar estupefacto ao ler intelectuais que se dizem de esquerda referirem-se a mais um desastroso desenlace de uma intervenção do imperialismo norte-americano, desta vez no Afeganistão, usando a primeira pessoa do plural, a que se imagina no centro do mundo: “falhámos às afegãs”.
Em relação a anteriores intervenções, temos uma novidade no campo da legitimação à posteriori da guerra sem fim: um “feminismo” com drones que matou homens e mulheres por igual.
O resto é a ilusão do desenvolvimento trazido de fora pelas várias versões do Consenso de Washington, onde até as reservas afegãs, ouro e moeda estrangeira, estão depositadas na Reserva Federal dos EUA.
segunda-feira, 16 de agosto de 2021
De chumbo
A
mim, o que mais me fascina é aquele indicador fora do
gatilho, arma bem colada ao corpo, com a mesma inclinação ao solo,
militares bem treinadinhos, mas com ar popular...
Um pouco distante da primeira imagem que deles tínhamos...
domingo, 15 de agosto de 2021
Censos, alojamento local e crise de habitação (I)
Esta correspondência é particularmente acentuada nas freguesias de Santa Maria Maior e Misericórdia, que concentram cerca de 43% das unidades de alojamento local e perdas de população, famílias e habitações que superam, na maioria dos casos, os 25%. Mas é também relevante em freguesias como Arroios, Santo António e São Vicente, inseridas ou próximas do centro histórico, com perdas de população e de famílias a rondar os 10%, entre 2011 e 2021. Não por acaso, e em contraponto com as dinâmicas de expulsão do centro, são sobretudo as freguesias mais periféricas da cidade a registar ligeiros aumentos ao nível da população, agregados familiares e número de alojamentos.
É claro que o alojamento local é apenas uma das vertentes da intensificação do turismo, ainda que particularmente relevante do ponto de vista do seu impacto de pressão e transformação da estrutura residencial do centro das cidades. Mas é justamente por isso que fazem todo o sentido as medidas restritivas entretanto adotadas, cruciais para assegurar o equilíbrio entre a função residencial e a função turística, e impedir as lógicas de expulsão, socialmente iníqua, de famílias e pessoas dos centros das cidades, no quadro de indesejáveis processos de gentrificação.
Adenda: A propósito dos processos de gentrificação e dos seus impactos sociais profundos, à escala humana do bairro, dos quotidianos e das famílias, vale muito a pena ouvir o poadcast «A cidade e o medo - O efeito Lisboa», da jornalista da RAI Francesca Berardi (a que cheguei por recomendação do Ivan Nunes).
sexta-feira, 13 de agosto de 2021
Um jornal que não esvazia
Portugal foi um dos países do mundo mais atingidos pelos impactos económicos da pandemia da Covid-19 em 2020, com uma queda de 7,4% do PIB. Este impacto é sobretudo explicado pelas características estruturais da economia portuguesa, nomeadamente a crescente dependência de um dos sectores mais afetados pela pandemia no campo internacional, o turismo, e pela relativa inação do Estado português refletida na parca despesa pública contra-cíclica. Quando comparado com outros países europeus, o esforço orçamental português foi dos mais modestos na Zona Euro. O défice orçamental de 2020 cresceu 5,8% relativamente a 2019, inferior ao crescimento médio na Zona Euro de 6,6%. No entanto, a profunda queda do produto não se traduziu no que seria um natural aumento do desemprego ou queda acentuada do rendimento disponível. O desemprego cresceu ligeiramente até atingir 7,1% em 2020 e o número de falências chegou mesmo a cair nos primeiros meses de crise pandémica. Se é certo que programas de emergência como o lay-off simplificado, envolvendo gastos públicos, tiveram um papel central no controlo dos efeitos económicos da pandemia, o programa de moratórias de crédito, um programa de reduzidos custos imediatos para o Estado, explica o aparente paradoxo, tendo-se revelado particularmente eficaz numa economia sobre-endividada como a portuguesa, com o somatório da dívida de empresas e famílias a representar 137% do PIB em 2019, um valor superior à média de 125% para o conjunto dos países da União Europeia.
quinta-feira, 12 de agosto de 2021
Perguntas que não tiram férias
terça-feira, 10 de agosto de 2021
Durmam bem
sábado, 7 de agosto de 2021
Pretexto olímpico
 Quatro medalhas e esta foi a nossa melhor prestação olímpica. Não é propriamente espectacular. O que pode explicar este padrão?
Quatro medalhas e esta foi a nossa melhor prestação olímpica. Não é propriamente espectacular. O que pode explicar este padrão?Querido mês (II)
quinta-feira, 5 de agosto de 2021
Afinal são mesmo «os alunos de Crato»
Assim, dos «alunos que realizaram a prova de Matemática Pisa 2015, 88,4% não haviam ainda sido abrangidos pelas Metas Curriculares implementadas pela primeira vez em 2013/14», sendo por isso «legítimo assumir que a melhoria significativa (...) no teste Pisa 2015 foi mérito de alunos com aprendizagem exclusivamente orientada pelo Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007». E nos «alunos que realizaram a prova de Matemática Pisa 2018, a aprendizagem em Matemática no 2º e no 3º ciclos» foi, em «pelo menos 88,6%» dos casos, «orientada pelas Metas Curriculares, uma vez que as Aprendizagens Essenciais só seriam implementadas no ano escolar seguinte». Uma relação entre orientações pedagógicas e resultados que também se verifica no TIMSS (4º ano de Matemática).
A conclusão geral a que Maria João Gouveia chega, neste âmbito, é por isso clara: «os números revelam que a aprendizagem da Matemática e o desenvolvimento das capacidades que essa aprendizagem é suposto promover, foram mais bem sucedidos durante a vigência do Programa de 2007 do que durante a vigência das Metas Curriculares, contrariamente à expectativa que estas últimas criaram em alguns sectores da nossa sociedade». Ou seja, como já se intuia aqui e aqui, o que esta evolução de resultados pode revelar, face a 2015, não é o efeito do fim dos exames e das Metas Curriculares, mas sim o efeito, temporalmente deferido, nos «alunos de Crato», da sua vigência.
Posto isto, como se mostra agora a todos quantos enxamearam jornais com artigos de opinião (ver por exemplo aqui, aqui, aqui, aqui ou aqui), fazendo lembrar um coro previamente ensaiado, que as coisas nem sempre são o que parecem à primeira vista? Como repor a verdade dos factos numa efabulação fraudulenta que - por precipitação, superficialidade ou má fé - chegou mesmo a cruzar a fronteira?
Adenda: Os resultados escolares não dependem apenas, obviamente, das orientações pedagógicas vigentes em cada momento. Entre muitos outros factores, contextos de crise económica e social, por exemplo (como o que Portugal atravessou entre 2011 e 2015, submetido a políticas de austeridade «além da troika»), deixam também, necessariamente, as suas marcas. Mas para avaliar a relação entre orientações pedagógicas e resultados é necessário perceber bem de que alunos se está a falar em cada momento, o que obriga a uma análise cuidada da cronologia das mudanças educativas.
terça-feira, 3 de agosto de 2021
Música dominante
Quem visitar o recém inaugurado Berardo Museu Arte Deco - onde se expõem muitas peças adquiridas pelo dito empresário - é agredido.
O ar do museu está impregnado de uma banda sonora, escolhida por alguém, sem que o visitante a possa desligar, reduzir ou ignorá-la.
Não se sabe onde e quando começou esta guerra ao silêncio, mas olhando para trás é possível ver que assaltou há muito estações de metropolitano, transportes, esplanadas, restaurantes, jardins, quiosques, clínicas, etc.; e agora, parece, está a entrar - salve-se quem puder! - nos museus! O Museu de Arqueologia, nos Jerónimos, já tem uma banda sonora, inventada por alguém... para entreter ou dar contexto sonoro - supostamente fantástico - a quem o visita uma das exposições.
Parece ser, aliás, um novo fenómeno: as rádios comerciais desta vida contratam estabelecimentos comerciais para passarem a sua emissão como som ambiente, que na verdade ninguém consegue ouvir deviamente, muitas vezes violando regras de saúde laboral, não vigiadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho. E por isso, quando os clientes protestam, os funcionários do dito estabelecimento respondem que nada podem fazer ou que o som é controlado remotamente ou que faz parte do conceito da loja...
O assalto - porque se trata de uma invasão de espaço público sob a forma de poluição - é uma representação simbólica dos efeitos perversos, perniciosos e imperiais da concorrrência desregulada que precisa de gritar mais alto para se impor aos concorrentes; e do extremo individualismo que se tornou dominante na nossa sociedade, em que uma ditadura individualizada - centralista e centralizada no poder de quem decide neste caso a música - se exerce sobre a massa colectiva, impotente e sem instrumentos para evitar a captura abusiva de um espaço colectivo pela propriedade privada ou pela concessão privada, porque os detentores de cargos políticos foram igualmente capturados por esta lógica e são, por isso, coniventes com este poder transversalizado.
E essa lógica, essa ausência de regra que não o desvario comercial, acaba por contaminar as mentes. Já se encontram pessoas que trazem o seu altifalante para uma esplanada - num recuo do progresso face aos simples auriculares. Na verdade, é um recuo civilizacional, porque é sempre mais díficil pensar nos outros do que em nós próprios. E quando alguém protesta e exige o fim dessa imposição musical às outras pessoas, respondem: "Porquê? Estou num espaço público, posso fazer o que quero!" E de nada vale dizer-lhes: "Não, não está num espaço público: está num espaço colectivo! E por isso não pode fazer o que quer".
Pacheco Pereira alegou, num muito feliz artigo do jornal Público, tratar-se de uma deriva social para a má-educação. Ora, a deriva - digo eu - é outra. Trata-se de um longo processo iniciado em Portugal sobretudo nos anos 80 e que enfatizou a moda importada de que o sucesso era um combate individual, empresarial, contra o mundo, e que dele apenas poderiam beneficiar os vencedores contra os falhados. Essa dinâmica é hoje dominante e mudou as cabeças dos mais jovens.
Vai ser difícil acabar com a música nos museus e em toda a parte porque quem a coloca já não entende a questão que está a ser levantada. Há combates que duram, de facto, décadas. Mudar as cabeças é um deles.
segunda-feira, 2 de agosto de 2021
Hoje
«Devemos a José Afonso um conjunto de canções e pensamentos que mudaram o curso da música em Portugal. Insatisfeito com as formas e práticas da canção de Coimbra, atento aos contextos sociais e políticos do país real, foi criando uma obra que abriu e alargou horizontes, juntando à criação musical objetivos de luta. Primeiro contra o regime, depois em favor da criação de um modelo de sociedade. Através dos arquivos da rádio e televisão da RTP, entre entrevistas, atuações e reportagens, José Afonso fala-nos de si, das suas canções e de como estas refletiram as suas ideias. Juntando parceiros e nunca perdendo uma noção de rumo este é um percurso central na história da música portuguesa ainda hoje vivo e pungente tanto pelas memórias das gravações do próprio José Afonso como pelas versões que outros continuam a criar a partir da sua obra».
No dia em que Zeca Afonso completaria 92 anos, a RTP transmite, a partir das 21h00, o documentário inédito «José Afonso: Traz Outro Amigo Também», da autoria de Nuno Galopim e de Miguel Pimenta, seguido de um concerto filmado no Capitólio, «O Cantinho do Zeca», com direção artística de Agir. A não perder.
domingo, 1 de agosto de 2021
Reparos
Deixem-me prefaciar esta nota com um reconhecimento: há vários anos que sou leitor assíduo do blogue duas ou três coisas, apreciando particularmente o registo autobiográfico, das memórias de juventude às diplomáticas, servido por uma escrita de fazer inveja. Além disso, devo às recomendações de Seixas da Costa boas leituras, dormidas e ainda melhores comidas por este país afora.