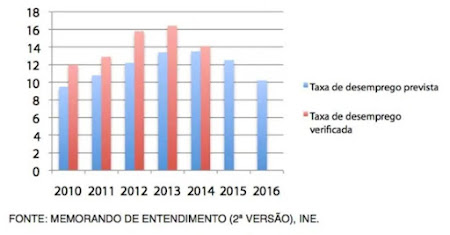É consensual, de facto, que as metas adiantadas como condição para desconfinar serão atingidas já em meados de março, fazendo por isso bem o Governo em anunciar o plano de desconfinamento no próximo dia 11, começando evidentemente pelas escolas. Um exercício simples - que não pretende constituir-se como «projeção» nem «modelo» - a partir da média de variações entre 20 e 26 de fevereiro, sugere que antes ao final de março se chegaria a zero em vários indicadores (ver gráfico). Chegaria, claro, porque todos estes exercícios tendem a ser rígidos (ou especulativos) nos seus pressupostos, lidando mal com a complexidade de fatores e com a própria dinâmica da realidade.
Recorde-se, já agora, que o Jorge Buescu que por estes dias clama contra o desconfinamento e a reabertura das escolas, é o mesmo matemático que, no início da pandemia, avançava com projeções dantescas - sempre tão apetitosas para o sensacionalismo de alguma imprensa - sobre a evolução da mesma em março do ano passado (pouco depois de ter dito que era preciso «acabar de vez com o vírus da corono-histeria»).
 De acordo com uma projeção sua então publicada no Expresso, Portugal poderia atingir, no final de março de 2020, 60 mil casos de contágio (sem adoção de medidas); cerca de 19 mil casos (seguindo a estratégia francesa); ou cerca de 4 mil casos (adotando a estratégia italiana, mais severa).
De acordo com uma projeção sua então publicada no Expresso, Portugal poderia atingir, no final de março de 2020, 60 mil casos de contágio (sem adoção de medidas); cerca de 19 mil casos (seguindo a estratégia francesa); ou cerca de 4 mil casos (adotando a estratégia italiana, mais severa).Numa projeção posterior, publicada no Observador a 15 de março (gráfico aqui ao lado), o matemático mantinha apenas os dois primeiros cenários, entendendo que «o cenário "à italiana"» estava já fora de questão, uma vez que o país deveria «ter tomado as medidas italianas há uma semana». Curiosamente, foi deste cenário rejeitado que a realidade mais se aproximou, com cerca de 4 mil casos no final do mês.
Voltando a 2021, vale a pena sublinhar que a descida abrupta dos diferentes indicadores, desde o pico de janeiro, tem paralelo na subida vertiginosa registada depois de 25 de dezembro, reforçando a hipótese da particular - e episódica - conjugação de factores adversos no Natal, a começar pelo relaxamento das restrições face às celebrações da época. E não, como muitas vezes ainda se considera, o resultado de um suposto efeito da ausência de confinamento em outubro ou novembro, numa espécie de lógica endémica da pandemia, em que assentam modelos fechados sobre si mesmos e, por isso, propensos ao medo e alarmismo. Como se o confinamento, total e obsessivo, e não a vacina, fosse a cura. Aliás, desse ponto de vista, mais importante que confinar ou desconfinar nas semanas que antecedem a Páscoa, será talvez preciso acautelar devidamente o fim-de-semana da própria Páscoa.