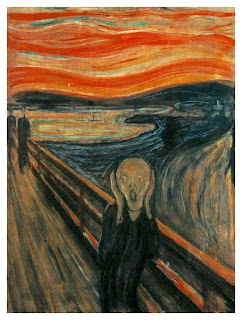domingo, 10 de março de 2013
Que projecto é este?
Os pobres não trabalham porque têm demasiados rendimentos; os ricos não trabalham porque não têm rendimentos suficientes. Expande-se e revitaliza-se a economia dando menos aos pobres e mais aos ricos.
Há trinta anos atrás, o economista John Kenneth Galbraith resumia, como já aqui tinha assinalado, a lógica da economia política e da política económica que, desgraçadamente, hoje estão em vigor no nosso país. Quando António Borges diz que o ideal seria que os salários descessem, vindo em apoio da ideia de mau manual de economia de Passos Coelho, segundo a qual o aumento do salário mínimo é uma barreira à criação de emprego, é de um processo de redistribuição de baixo para cima, baseado numa curiosa teoria dos incentivos, de que falamos. Esta é a lógica da austeridade: criar, através do desemprego de massas, da fragilização das regras laborais ou dos cortes nos apoios sociais uma situação de tal forma desesperada que os de baixo aceitem trabalhar só para aquecer.
Para isto, é preciso uma ideologia económica, segundo a qual o trabalho tem o mesmo estatuto da batata. Uma teoria também feita de modelos mal comportados, provavelmente os mesmos que levaram o secretário de estado de Gaspar, Morais Sarmento, a ir esta semana ao Parlamento dizer, com total falta de pudor, que Portugal terá, em 2040, uma dívida pública de 60% do PIB; isto depois de sucessivos e clamorosos erros, num horizonte de meses, sobre todos os indicadores relevantes. A ideia, talvez, é convencer-nos que a austeridade é para décadas. Mas para isto também é necessário que a pressão externa não abrande muito e daí que Gaspar não queira negociar condições financeiras que considera excessivamente favoráveis, dizendo no início da semana que a proposta irlandesa de alargar as maturidades dos empréstimos em quinze anos é inconcebível, confiando que os credores externos sejam os seus melhores aliados.
A verdade é que os salários, caso esta gente não tenha reparado, e não podem ter deixado de o fazer, porque esse é o grande sucesso da sua política económica, já estão em queda há muito e, entretanto, a taxa de desemprego não pára de aumentar a um ritmo avassalador. Ouçam os empresários: não se investe porque não se vende, nem se tem a expectativa de vir a vender. É sobretudo o nível de investimento, de actividade económica, que determina os ritmos de criação ou de destruição de emprego e a austeridade alimenta decisivamente todas as forças da depressão e, logo, da destruição de emprego. É óbvio que a estabilização e recuperação da procura salarial são vitais no actual contexto, sobretudo entre os trabalhadores com menor rendimento e logo com maior propensão para gastar tudo na satisfação das suas necessidades. Isto para não falar que, por exemplo, um salário mínimo em actualização constante, como parte de um esforço mais vasto para equilibrar as relações entre capital e trabalho, diminui a pobreza laboral e as desigualdades, ajudando a bloquear desmoralizadores e improdutivos círculos viciosos de pobreza e incentivando, a prazo, os empresários a inovar, até porque estes sabem que estratégias empresariais medíocres lhes estão vedadas.
Esta forma de pensar é todo um outro projecto. Olhando para semana que se seguiu ao 2 de Março, temos a confirmação, através das sucessivas declarações de governantes, do medíocre projecto de classe, suportado externamente pela troika, que temos de derrotar.
sábado, 9 de março de 2013
Mais um gráfico para ajudar a compreender a crise europeia
Neste post procurei evidenciar, recorrendo a gráficos, duas ideias centrais que tendem ser pouco consideradas no discurso oficial sobre a crise europeia:
- primeiro, que a crise das dívidas soberanas (que conduziu à intervenção externa em vários países da UE, dentro e fora da zona euro) está fortemente associada à acumulação de dívida externa desde meados da década de 1990;
- segundo, que a acumulação de dívida externa está fortemente associada à estrutura produtiva inicial de cada país.
Uma vez que a estrutura produtiva demora décadas a transformar, faz pouco sentido afirmar que a crise europeia se explica fundamentalmente pelas razões habitualmente apontadas (má gestão das contas públicas, ausência de "reformas estruturais", etc.).
O gráfico que apresento abaixo ajuda a perceber melhor um dos motivos pelos quais a estrutura produtiva de partida é tão importante. Este gráfico mostra que os países cujas estruturas produtivas mais se assemelhavam à das economias emergentes da Ásia são aqueles que mais dívida externa acumularam.
Correlação entre a acumulação da dívida externa e o grau de exposição à concorrência asiática
Posto em termos simples, entre os países europeus houve uns que beneficiaram mais do que outros da forma como a UE se expôs à globalização. Economias produtoras de bens e serviços que são menos produzidos e mais procurados pelas economias emergentes (máquinas para a indústria, equipamentos de transporte, etc.) beneficiaram em termos líquidos com os acordos comerciais entre a UE e aquelas economias. Pelo contrário, países produtores de bens mais expostos à concorrência das economias emergentes (como sejam os têxteis, o vestuário ou o calçado) não só passaram a enfrentar mais concorrência, como foram mais penalizados pela forte apreciação do euro face ao dólar (cujas implicações em termos de competitividade são mais relevantes no caso de produtos menos sofisticados).
É mesmo assim: esta UE e as suas regras servem os interesses de alguns. Mas não servem os interesses de todos.
- primeiro, que a crise das dívidas soberanas (que conduziu à intervenção externa em vários países da UE, dentro e fora da zona euro) está fortemente associada à acumulação de dívida externa desde meados da década de 1990;
- segundo, que a acumulação de dívida externa está fortemente associada à estrutura produtiva inicial de cada país.
Uma vez que a estrutura produtiva demora décadas a transformar, faz pouco sentido afirmar que a crise europeia se explica fundamentalmente pelas razões habitualmente apontadas (má gestão das contas públicas, ausência de "reformas estruturais", etc.).
O gráfico que apresento abaixo ajuda a perceber melhor um dos motivos pelos quais a estrutura produtiva de partida é tão importante. Este gráfico mostra que os países cujas estruturas produtivas mais se assemelhavam à das economias emergentes da Ásia são aqueles que mais dívida externa acumularam.
Correlação entre a acumulação da dívida externa e o grau de exposição à concorrência asiática
Fonte: OCDE e AMECO
Nota: o endividamento externo é aqui medido com base na Posição do Investimento Internacional, uma das medidas de dívida externa mais usadas.
Posto em termos simples, entre os países europeus houve uns que beneficiaram mais do que outros da forma como a UE se expôs à globalização. Economias produtoras de bens e serviços que são menos produzidos e mais procurados pelas economias emergentes (máquinas para a indústria, equipamentos de transporte, etc.) beneficiaram em termos líquidos com os acordos comerciais entre a UE e aquelas economias. Pelo contrário, países produtores de bens mais expostos à concorrência das economias emergentes (como sejam os têxteis, o vestuário ou o calçado) não só passaram a enfrentar mais concorrência, como foram mais penalizados pela forte apreciação do euro face ao dólar (cujas implicações em termos de competitividade são mais relevantes no caso de produtos menos sofisticados).
É mesmo assim: esta UE e as suas regras servem os interesses de alguns. Mas não servem os interesses de todos.
sexta-feira, 8 de março de 2013
quinta-feira, 7 de março de 2013
Só falta a esperança
Cada uma das sociedades sob tutela da UE tem uma identidade própria, uma história única, e por isso também uma forma própria de enfrentar esta crise. A cultura de um povo, exprimindo a sua forma de estar no mundo, apoiada num “inconsciente antropológico” (a metáfora é de Emmanuel Todd) sedimentado ao longo de séculos, é central na sua identidade e não deve ser ignorada quando se discute a sua economia política. Os economistas enquanto tal geralmente não prestam atenção à cultura, a menos que se trate de analisar e promover a sua mercantilização. No entanto, se ignorarmos a cultura dos povos europeus, corremos um sério risco de falharmos no diagnóstico da presente crise e nas estratégias que defendemos para dela sairmos.
Por exemplo, muitos economistas atribuem o desencadear da chamada “crise da dívida europeia” às hesitações de Angela Merkel em emprestar dinheiro ao governo grego. Acontece que tais hesitações, também à vista nos resultados de sucessivas cimeiras da UE, são apenas a manifestação de uma causa mais profunda que deve ser identificada. Proponho a seguinte: para o povo alemão, a UE não deve implicar a sua subordinação a normativos jurídicos que não tenham a marca da sua cultura, com destaque para o pensamento económico ordoliberal, nem deve implicar transferências permanentes para outros países, muito menos dívida partilhada. Em síntese, a identidade alemã é incompatível com propostas de saída da crise que impliquem mais perda de soberania, como aliás já avisou o Tribunal Constitucional alemão.
O recuo do governo alemão na recapitalização dos bancos espanhóis através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, há meses decidida numa cimeira, bem como o adiamento sine die da garantia de todos os depósitos em bancos da zona euro, no âmbito de uma união bancária, são sinais evidentes de que a Alemanha sabe bem o que não quer. Nisto os partidos da oposição não conseguem ser muito diferentes de Angela Merkel. Por isso, soam a falso as profissões de fé num federalismo redentor que um dia lançará um grande programa de reanimação da economia europeia, possivelmente financiado pelos impostos sobre capitais que hoje fogem ao fisco em paraísos fiscais europeus, ou um grande programa europeu de subsidiação de empregos para jovens.
O povo português só respeitará os dirigentes políticos que tiverem os pés assentes na terra, nunca os vendedores de ilusões. É urgente preparar os portugueses para o fim da ilusão da moeda única e, ao mesmo tempo, evitar o impasse político em que gregos e italianos caíram. No dia em que a energia do protesto de massa se converter num programa político que assuma a necessidade de abandonar o colete-de-forças do euro e proponha uma estratégia de desenvolvimento bem fundamentada, apresentada por cidadãos livres de dogmas e de interesses particulares, então chegará o dia em que os portugueses voltarão à rua para exigir serem ouvidos, mas agora com a energia festiva de quem já sabe o futuro que quer. É só isso que falta, a esperança.
Ladrão na Alemanha
O Alexandre Abreu começou a publicar uma série de artigos sobre a crise na
zona euro num blogue da fundação alemã Heinrich Böll. Estará aí em diálogo com
mais dois autores. Infelizmente só em inglês, ficam aqui e aqui os seus
primeiros contributos.
Salário mínimo
Este texto do Ricardo Paes Mamede sobre o aumento do salário mínimo merece ser relembrado e divulgado.
Hegemonias
O eurodeputado Vital Moreira, que no Parlamento Europeu tem por mérito próprio grandes responsabilidades na área do comércio internacional, alinhou anteontem no Negócios com o principal dogma da nebulosa neoliberal, de que o seu ordoliberalismo é parte integrante desde a primeira reunião da Mont Pelerin Society: as virtudes da “liberalização do comércio e do investimento” são mesmo irrestritas, segundo afiança. O protecionismo dos mais fortes traduz-se em novas rondas de desarmamento comercial transatlântico, quando, na realidade, o armamento já é residual. Promete-nos ganhos de crescimento e de emprego que ninguém pode autorizar e que a experiência passada não justifica, muito menos para aqueles países que precisam de política comercial e cambial para poderem gerir a abertura que mais convenha ao seu desenvolvimento. Estou a pensar, sei lá, em Portugal. Ainda se lembram das promessas feitas aquando da nossa adesão (integrados na UE) à Organização Mundial do Comércio em meados dos anos noventa?
Imagino que, do alto do Consenso de Bruxelas, Portugal seja uma pequena e irrelevante região. Nos cálculos das fracções dominantes do capital transatlântico, ancoradas nos países centrais e que segundo muitos estudos de economia política internacional têm acabado por guiar os destinos da integração, nem se fala. No fundo, confirma-se que a integração europeia pouco mais é do que um espaço livre-cambista que manieta de forma desigual os Estados e que tem por efeito consolidar o capitalismo alemão na Europa, na sombra da hegemonia do capitalismo norte-americano.
Entretanto, na mesma área política e no mesmo jornal, o Negócios, mas infinitamente mais realista, temos João Pinto e Castro, uma das poucas vozes que aí começa a desafiar este consenso europeu que não nos garante qualquer futuro. Perante passividades e tacticismos de resultados duvidosos ou perante a convicção genuína numa qualquer possibibilidade supranacional robusta, que corre o risco cada vez maior de só gerar impotências desesperadas e humilhações flagrantes, haja quem ouse pensar o impensável que poderá tornar-se inevitável. Até na direita neo-conservadora surgem sinais de abertura intelectual para considerar o euro e os seus danos, de José Manuel Fernandes a João Carlos Espada, mas a direita não tem de ter pressa porque as grilhetas do euro garantem todas as vitórias que contam na economia política.
Hoje
Organizado pela Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas, realiza-se no Palácio Galveias, em Lisboa, entre as 17h30 e as 19h30, o debate «A Lei das Rendas e as suas Consequências». Intervenções de Helena Roseta (Vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa), Marinho Pinto (Bastonário da Ordem dos Advogados) e Nuno Serra (Doutorando em Economia).
Em Lisboa e em Coimbra, mais duas sessões do Ciclo Conversas sobre o Senso Comum, organizadas pela Cultra. Em Lisboa, no Espaço MOB (Travessa da Queimada, 33), a partir das 21h30, Bettencourt Picanço e António Avelãs perguntam: «Os Funcionários Públicos são uns privilegiados?». Em Coimbra, Nuno Serra e Rui Curado Silva questionam: «Temos doutores a mais?». É na Sala Arte à Parte (Rua Fernandes Tomás, 29).
Em Lisboa e em Coimbra, mais duas sessões do Ciclo Conversas sobre o Senso Comum, organizadas pela Cultra. Em Lisboa, no Espaço MOB (Travessa da Queimada, 33), a partir das 21h30, Bettencourt Picanço e António Avelãs perguntam: «Os Funcionários Públicos são uns privilegiados?». Em Coimbra, Nuno Serra e Rui Curado Silva questionam: «Temos doutores a mais?». É na Sala Arte à Parte (Rua Fernandes Tomás, 29).
quarta-feira, 6 de março de 2013
Economia e finança
Hoje saiu uma pequena entrevista minha no Jornal de Negócios sobre a aparente divergência entre indicadores económicos e financeiros nacionais. Como não está em linha e, mesmo na edição impressa, foi sujeita a cortes devido à falta de espaço, coloco aqui as minhas respostas completas.
Como explica a divergência entre os indicadores dos mercados financeiros e os indicadores económicos?
A divergência entre os indicadores dos mercados financeiros e os indicadores económicos explica-se por duas grandes razões. A primeira diz respeito à miopia e volatilidade dos mercados financeiros, cuja actividade e rentabilidade está voltada para o curto prazo, sendo por isso muito sensível a nova informação. Ora, durante 2011 e a primeira metade de 2012 a incerteza sobre o futuro do euro e solvabilidade dos estados periféricos foi muito forte, o que se traduziu numa abrupta quebra nos mercados. Depois das declarações de Draghi sobre a defesa do euro na sua actual configuração a todo o custo e consequente anúncio das OMT, é natural que os mercados financeiros tenham reagido de forma quase eufórica, já que o risco de curto-prazo de implosão do euro foi anulado. Este movimento foi comum quer ao mercado de dívida pública, quer aos mercados de dívida e capitais privados. Entretanto, os maus números do último trimestre do ano passado, agora conhecidos, colocaram um ponto final nesta euforia.
A segunda razão encontra-se intimamente ligada com a primeira. As políticas públicas quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, têm estado voltadas para o suporte à esfera financeira. As baixas taxas de juro e os empréstimos de longo prazo do BCE, a redução de exigências de colateral nos empréstimos ELA dos bancos centrais nacionais e os processos de recapitalização bancária com o mínimo de interferência com os interesses accionistas mostram um activismo público em apoio ao sector financeiro que tem como reverso da medalha as políticas de austeridade orçamental que condenam à falência milhares de empresas não-financeiras e ao desemprego quase um milhão de trabalhadores. É, portanto natural que o sector financeiro, que anima e é animado por estes mercados, tenha uma resiliência não partilhada pelo resto da economia.
Os mercados e os investidores estão a antecipar correctamente uma recuperação económica?
Não me parece que os mercados e agentes de mercado estejam a antecipar qualquer recuperação económica, nem correcta, nem incorrectamente. O que os agentes fizeram foi uma aposta fundada, à luz do que referi antes, na subida das cotações de obrigações e acções no curto prazo. Aliás, como bem mostra a recente emissão de obrigações do Estado português, foram agentes com perfil mais arriscado que compraram títulos de dívida, procurando ganhos de curto prazo com o movimento de subida de preço destes títulos, aliado, dado o peso dos EUA na origem destes compradores, nos ganhos cambiais decorrentes da valorização do euro face ao dólar. O andamento da economia é aqui secundário, face aos medos de colapso financeiro reinantes há pouco menos de um ano.
Que indicador considera mais relevante para identificar uma inflexão do ciclo económico?
No actual ambiente de espiral recessiva é difícil escolher um indicador avançado do ciclo económico. O país tem estado à mercê de sucessivas ondas de austeridade que baralham e deprimem necessariamente as expectativas dos agentes. Na minha opinião, só quando o PIB crescer e, sobretudo, a destruição de emprego terminar, poderemos ver um sinal de inflexão.
Perante a divergência entre os dois e maus resultados dos indicadores económicos, isso significa que é necessário mudar a estratégia de política económica?
Parece-me evidente. Portugal está hoje numa espiral que só pode ser invertida com uma profunda mudança de rumo político. A aposta do governo de que com um sistema bancário capitalizado e mercados estabilizados haja uma recuperação de crédito na economia que redinamize o consumo e investimento, esbarra com a perda de rendimento dos consumidores e encomendas das empresas causadas pela austeridade radical em curso. Só haverá recuperação de crédito, quando as empresas tiverem perspectivas futuras de rendimento para o reembolsar. Veja-se o recente exemplo do Reino Unido, com uma austeridade bem mais suave do que a nossa, onde os programas de promoção de crédito à banca do Banco de Inglaterra falharam estrondosamente, com o crédito total à economia a contrair. Portugal precisa urgentemente de uma articulação entre política monetária e política orçamental expansionistas que sirvam os interesses do emprego. Estou convencido que tal inversão não é possível no quadro desta união monetária europeia.
Como explica a divergência entre os indicadores dos mercados financeiros e os indicadores económicos?
A divergência entre os indicadores dos mercados financeiros e os indicadores económicos explica-se por duas grandes razões. A primeira diz respeito à miopia e volatilidade dos mercados financeiros, cuja actividade e rentabilidade está voltada para o curto prazo, sendo por isso muito sensível a nova informação. Ora, durante 2011 e a primeira metade de 2012 a incerteza sobre o futuro do euro e solvabilidade dos estados periféricos foi muito forte, o que se traduziu numa abrupta quebra nos mercados. Depois das declarações de Draghi sobre a defesa do euro na sua actual configuração a todo o custo e consequente anúncio das OMT, é natural que os mercados financeiros tenham reagido de forma quase eufórica, já que o risco de curto-prazo de implosão do euro foi anulado. Este movimento foi comum quer ao mercado de dívida pública, quer aos mercados de dívida e capitais privados. Entretanto, os maus números do último trimestre do ano passado, agora conhecidos, colocaram um ponto final nesta euforia.
A segunda razão encontra-se intimamente ligada com a primeira. As políticas públicas quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, têm estado voltadas para o suporte à esfera financeira. As baixas taxas de juro e os empréstimos de longo prazo do BCE, a redução de exigências de colateral nos empréstimos ELA dos bancos centrais nacionais e os processos de recapitalização bancária com o mínimo de interferência com os interesses accionistas mostram um activismo público em apoio ao sector financeiro que tem como reverso da medalha as políticas de austeridade orçamental que condenam à falência milhares de empresas não-financeiras e ao desemprego quase um milhão de trabalhadores. É, portanto natural que o sector financeiro, que anima e é animado por estes mercados, tenha uma resiliência não partilhada pelo resto da economia.
Os mercados e os investidores estão a antecipar correctamente uma recuperação económica?
Não me parece que os mercados e agentes de mercado estejam a antecipar qualquer recuperação económica, nem correcta, nem incorrectamente. O que os agentes fizeram foi uma aposta fundada, à luz do que referi antes, na subida das cotações de obrigações e acções no curto prazo. Aliás, como bem mostra a recente emissão de obrigações do Estado português, foram agentes com perfil mais arriscado que compraram títulos de dívida, procurando ganhos de curto prazo com o movimento de subida de preço destes títulos, aliado, dado o peso dos EUA na origem destes compradores, nos ganhos cambiais decorrentes da valorização do euro face ao dólar. O andamento da economia é aqui secundário, face aos medos de colapso financeiro reinantes há pouco menos de um ano.
Que indicador considera mais relevante para identificar uma inflexão do ciclo económico?
No actual ambiente de espiral recessiva é difícil escolher um indicador avançado do ciclo económico. O país tem estado à mercê de sucessivas ondas de austeridade que baralham e deprimem necessariamente as expectativas dos agentes. Na minha opinião, só quando o PIB crescer e, sobretudo, a destruição de emprego terminar, poderemos ver um sinal de inflexão.
Perante a divergência entre os dois e maus resultados dos indicadores económicos, isso significa que é necessário mudar a estratégia de política económica?
Parece-me evidente. Portugal está hoje numa espiral que só pode ser invertida com uma profunda mudança de rumo político. A aposta do governo de que com um sistema bancário capitalizado e mercados estabilizados haja uma recuperação de crédito na economia que redinamize o consumo e investimento, esbarra com a perda de rendimento dos consumidores e encomendas das empresas causadas pela austeridade radical em curso. Só haverá recuperação de crédito, quando as empresas tiverem perspectivas futuras de rendimento para o reembolsar. Veja-se o recente exemplo do Reino Unido, com uma austeridade bem mais suave do que a nossa, onde os programas de promoção de crédito à banca do Banco de Inglaterra falharam estrondosamente, com o crédito total à economia a contrair. Portugal precisa urgentemente de uma articulação entre política monetária e política orçamental expansionistas que sirvam os interesses do emprego. Estou convencido que tal inversão não é possível no quadro desta união monetária europeia.
Caro Soares dos Santos
Caro Alexandre Soares dos Santos, sou cidadão português e deputado na Assembleia da República. Sou, portanto, um dos destinatários dos inúmeros conselhos que tanto gosta de dar aos políticos, aos jovens e aos portugueses em geral. Mas eu também tenho algumas coisas para lhe dizer. O senhor é um dos poucos vencedores do euro e das taxas de juro baixas – com uma moeda mais forte que o escudo conseguiu passar a importar mais barato, e com taxas de juro historicamente baixas, conseguiu o crédito necessário para, em poucos anos, alargar a todo o país a sua rede de distribuição e investir no estrangeiro. Pelo caminho, contribuiu negativamente para o saldo da nossa balança comercial, “aniquilou” o comércio tradicional e esmagou as margens de lucro dos pequenos produtores agrícolas. Como se isto não fosse suficiente, ainda teve o descaramento de, em plena crise, transferir a domiciliação fiscal do seu grupo económico para outro país. E assim, ironicamente, enquanto o povo português faz das tripas coração para pagar esta crise, o senhor (ao que parece, um dos homens mais ricos do mundo) deixa de pagar em Portugal os impostos que eram devidos pelo lucro obtido cá, para pagar menos na Holanda. Encontrou ainda, apesar de a economia portuguesa estar em recessão, uma oportunidade de negócio em mais um sector protegido da concorrência internacional – depois de o sector da distribuição, o sector da saúde – montando uma rede de clínicas médicas low cost. À luz deste investimento, compreendem-se melhor as críticas que faz à “subsidiodependência”, ou quando afirma que “andamos sempre a mamar na teta do Estado” – quanto menos o Estado investir no Serviço Nacional de Saúde, maior será o número dos seus clientes, correcto? Caro Alexandre Soares dos Santos, permita-me a ousadia de lhe dar um conselho: use parte da fortuna que amealhou neste país para investir na indústria. Desenvolva, por exemplo, uma bicicleta eléctrica: proponha-se entrar no capital de uma empresa portuguesa de bicicletas já existente, contrate uma equipa de jovens engenheiros para conceberem baterias eléctricas, invista no design da bicicleta e na sua promoção e use a rede de distribuição de que dispõe para as lançar no mercado. Arrisque, mostre que também é capaz de produzir coisas e de as exportar; como fazem já os empresários do sector do calçado, que desenvolvem produtos reconhecidos internacionalmente, que correm meio mundo para garantir encomendas e ainda contribuem para o aumento da produção nacional e positivamente para o saldo da nossa balança comercial.
(crónica publicada às quartas-feiras no jornal i)
terça-feira, 5 de março de 2013
Mais uma "ajudinha"
Reestruturações de dívida, como a que a Europa deverá admitir no caso português, têm pouco impacto. Por um lado, só abrangem uma parte do problema: o estado continuará dependente dos mercados para financiar outras amortizações e os juros de toda a dívida. Por outro lado, não
contribuem de modo nenhum para o relançamento de uma economia funcional, da qual o governo precisa desesperadamente se quiser melhorar a situação das contas públicas.
O mais que se consegue, depois de toda a subserviência dos ministros portugueses, é um simples alargar de prazo mantendo-se condicionalidades que ainda não conhecemos, mas que não deverão desviar-se da política recessiva que tem sido imposta a Portugal pela União Europeia.
A recusa de decisões frontais europeias de combate à crise foi, desde o início, uma parte importante da lenha que fez arder esta fogueira.
E a Europa recusa-se a aprender a lição. Continua a apostar em esperar por situações desesperadas para agir com medidas limitadas e fica à espera que, por milagre das forças do mercado, as coisas corram bem daqui a uns anos. Esta é uma má receita, à qual se somam os resultados comprovadamente maus da austeridade.
A reestruturação das dívidas da periferia só será eficaz se for feita a nível europeu numa perspectiva corajosa e de longo prazo, baseada no estímulo das economias e do emprego. Ficar à espera do nível seguinte do desespero para se dar mais um balão de oxigénio a economias moribundas, não é apenas ineficaz: é prolongar a crise deliberadamente.
O mais que se consegue, depois de toda a subserviência dos ministros portugueses, é um simples alargar de prazo mantendo-se condicionalidades que ainda não conhecemos, mas que não deverão desviar-se da política recessiva que tem sido imposta a Portugal pela União Europeia.
A recusa de decisões frontais europeias de combate à crise foi, desde o início, uma parte importante da lenha que fez arder esta fogueira.
E a Europa recusa-se a aprender a lição. Continua a apostar em esperar por situações desesperadas para agir com medidas limitadas e fica à espera que, por milagre das forças do mercado, as coisas corram bem daqui a uns anos. Esta é uma má receita, à qual se somam os resultados comprovadamente maus da austeridade.
A reestruturação das dívidas da periferia só será eficaz se for feita a nível europeu numa perspectiva corajosa e de longo prazo, baseada no estímulo das economias e do emprego. Ficar à espera do nível seguinte do desespero para se dar mais um balão de oxigénio a economias moribundas, não é apenas ineficaz: é prolongar a crise deliberadamente.
segunda-feira, 4 de março de 2013
Do outro lado do mundo
Imaginem um país, com uma gigantesca dívida pública, onde o governo se prepara para uma dos maiores pacotes de estímulo orçamental da sua
história. Imaginem um governo que ambiciona inflacionar a sua economia e que promove activamente o aumento dos salários. Imaginem um país onde o Banco Central se prepara para uma extraordinária política monetária expansionista de forma a a financiar o Estado e a desvalorizar a sua moeda.
Outro país
Pode uma campanha do turismo sintetizar toda uma economia política da subserviência que está sendo planeada entre o Terreiro do Paço, a Almirante Reis, Bruxelas, Frankfurt e Washington? Pode. Diz-se que a nossa “vantagem comparativa” está no turismo e nos baixos salários que são a sua marca e esta campanha diz que é preciso estar literalmente de corpo e alma com isto, ou melhor, oferecer o corpo e a alma a quem nos visita. É realmente todo um investimento biopolítico que se espera, mas que nunca compensará o colapso do outro investimento.
Vá lá saber-se porquê, esta campanha vergonhosa recordou-me um influente artigo de Olivier Blanchard, agora economista-chefe do FMI, sobre Portugal. Depois de ter andado a dizer que os défices externos periféricos eram virtuosos, havia quem dissesse que eram irrelevantes, já que os mercados financeiros internacionais, como se sabe, só canalizam recursos eficientemente para a modernização produtiva, Blanchard chegou à conclusão que a Portugal, na realidade, só restava uma penosa desvalorização interna. Além disso, os portugueses deveriam esquecer tecnologias e outras modernices típicas de países desenvolvidos, devendo antes focar os esforços em servir bem os do Norte – a tal “Florida da Europa”.
É claro que as elites económicas portuguesas ficam em êxtase sempre que vêem um economista estrangeiro tão reputado a falar das nossas “vantagens comparativas”. Na realidade, desde David Ricardo que a conversa das “vantagens comparativas” serve para manter os povos que não estão no centro no seu subalterno lugar. Com a troika e o seu governo, o nosso lugar é claro. Quem quiser outro país terá obviamente de os derrotar e perceber bem as implicações disso, reconquistando os instrumentos de política que nos faltam para criar “espaço de desenvolvimento”.
Em contraste com a dominante economia política da subserviência, o Alexandre Abreu, por exemplo, propôs, na última conferência da rede economia com futuro, uma economia política do desenvolvimento para um outro país.
domingo, 3 de março de 2013
A crise europeia explicada em dois gráficos (e a história é muito diferente do que nos contam)
Explicar a crise europeia em toda a sua extensão e detalhe é obra para um ou vários livros. No entanto, os aspectos essenciais desta crise podem ser resumidos em duas ideias essenciais.
1º) A crise das dívidas soberanas decorre da acumulação de dívida externa (pública e privada) em algumas das economias da UE nas últimas duas décadas (e não do descontrolo orçamental ou da ausência de ‘reformas estruturais’).
A versão oficial diz-nos que a crise resulta de práticas orçamentais erradas e da ausência de ‘reformas estruturais’ em alguns países. Mas não é isto que os dados mostram. Entre os países em crise há uns que acumularam mais dívida pública e outros menos, uns que procederam a alterações substanciais das regras laborais e de segurança social e outros nem tanto. O mesmo se passa com os países que têm passado essencialmente ao lado da crise. Mas há uma relação que é clara: os países cujos juros da dívida soberana mais cresceram durante a crise actual foram aqueles que mais dívida externa acumularam desde meados dos anos noventa. É o que nos mostra o primeiro gráfico.
Assim sendo, se queremos de perceber a crise europeia temos de perceber por que motivo alguns países acumularam muito mais dívida externa (pública e privada) do que outros. O que nos leva à segunda ideia.
2º) O factor determinante para explicar o crescente endividamento externo de alguns países (e a melhoria da posição externa de outros) é a estrutura produtiva que apresentavam à partida (e não o descontrolo orçamental ou a ausência de ‘reformas estruturais’).
Nos 20 anos que precederam a grande crise internacional as economias da UE foram sujeitas a um conjunto de transformações profundas, grande parte das quais politicamente induzidas, como sejam: a abolição das barreiras alfandegárias no seio da UE, a criação do mercado interno de capitais, a liberalização dos movimentos e actividades financeiros, a crescente centralização das políticas monetária e orçamental, os acordos de comerciais entre a UE e a China (e outras economias emergentes), o alargamento da EU a Leste, a apreciação do euro face ao dólar (a partir de 2003), ou o forte aumento dos preços do petróleo (entre 2002 e 2008). Estas transformações e evoluções aplicaram-se a todos os Estados Membros por igual. No entanto, sendo as estruturas económicas de partida muito diferentes, tais alterações tiveram impactos muito diferenciados. Tendo abdicado dos instrumentos de política fundamentais para gerir esses impactos, os países com estruturas produtivas menos avançadas acumularam muito mais dívida externa (pública e privada) do que os restantes. É isto que mostra o segundo gráfico.
Note-se que a estrutura produtiva dos países não se transforma substancialmente em poucos anos, por muito rigorosas e acertadas que sejam as políticas públicas prosseguidas.
Conclusão
Não faz sentido afirmar que a crise das dívidas soberanas se deve fundamentalmente aos erros de governação (que existiram, sem dúvida) cometidos nas últimas décadas nos países mais afectados. A crise deve-se à decisão de submeter economias com estruturas muito distintas às mesmas regras e às mesmas políticas. O erro de governação fundamental que pode ser apontado aos governos dos países em crise foi a decisão de participar no processo de integração europeia nos termos em que o fizeram (e que se revelaram desastrosos para as respectivas economias). O erro que lhes será apontado no futuro será o de não aprenderem com a história e prosseguirem pela mesma via.
Nota: o gráfico 1 foi corrigido, na sequência de um comentário de um leitor.
(Uma versão deste post em inglês foi entretanto publicada aqui.)
1º) A crise das dívidas soberanas decorre da acumulação de dívida externa (pública e privada) em algumas das economias da UE nas últimas duas décadas (e não do descontrolo orçamental ou da ausência de ‘reformas estruturais’).
A versão oficial diz-nos que a crise resulta de práticas orçamentais erradas e da ausência de ‘reformas estruturais’ em alguns países. Mas não é isto que os dados mostram. Entre os países em crise há uns que acumularam mais dívida pública e outros menos, uns que procederam a alterações substanciais das regras laborais e de segurança social e outros nem tanto. O mesmo se passa com os países que têm passado essencialmente ao lado da crise. Mas há uma relação que é clara: os países cujos juros da dívida soberana mais cresceram durante a crise actual foram aqueles que mais dívida externa acumularam desde meados dos anos noventa. É o que nos mostra o primeiro gráfico.
Gráfico 1 – Correlação entre a acumulação da dívida externa e a crise das dívidas soberanas
Fonte: Eurostat e AMECO
Nota: a Posição do Investimento internacional (no eixo horizontal) é uma das medidas mais usadas de dívida externa. Um valor negativo (positivo) significa que os passivos do país face ao exterior são maiores (menores) do que os activos. Quanto mais negativo for o seu valor, maior a dívida externa do país.
Assim sendo, se queremos de perceber a crise europeia temos de perceber por que motivo alguns países acumularam muito mais dívida externa (pública e privada) do que outros. O que nos leva à segunda ideia.
2º) O factor determinante para explicar o crescente endividamento externo de alguns países (e a melhoria da posição externa de outros) é a estrutura produtiva que apresentavam à partida (e não o descontrolo orçamental ou a ausência de ‘reformas estruturais’).
Nos 20 anos que precederam a grande crise internacional as economias da UE foram sujeitas a um conjunto de transformações profundas, grande parte das quais politicamente induzidas, como sejam: a abolição das barreiras alfandegárias no seio da UE, a criação do mercado interno de capitais, a liberalização dos movimentos e actividades financeiros, a crescente centralização das políticas monetária e orçamental, os acordos de comerciais entre a UE e a China (e outras economias emergentes), o alargamento da EU a Leste, a apreciação do euro face ao dólar (a partir de 2003), ou o forte aumento dos preços do petróleo (entre 2002 e 2008). Estas transformações e evoluções aplicaram-se a todos os Estados Membros por igual. No entanto, sendo as estruturas económicas de partida muito diferentes, tais alterações tiveram impactos muito diferenciados. Tendo abdicado dos instrumentos de política fundamentais para gerir esses impactos, os países com estruturas produtivas menos avançadas acumularam muito mais dívida externa (pública e privada) do que os restantes. É isto que mostra o segundo gráfico.
Gráfico 2 – Correlação entre a estrutura produtiva dos países à partida
e a acumulação posterior de dívida externa
Fonte: Eurostat e AMECO
Nota: quanto mais negativa for a Posição do Investimento internacional (aqui no eixo vertical), maior a dívida externa do país em causa.
Note-se que a estrutura produtiva dos países não se transforma substancialmente em poucos anos, por muito rigorosas e acertadas que sejam as políticas públicas prosseguidas.
Conclusão
Não faz sentido afirmar que a crise das dívidas soberanas se deve fundamentalmente aos erros de governação (que existiram, sem dúvida) cometidos nas últimas décadas nos países mais afectados. A crise deve-se à decisão de submeter economias com estruturas muito distintas às mesmas regras e às mesmas políticas. O erro de governação fundamental que pode ser apontado aos governos dos países em crise foi a decisão de participar no processo de integração europeia nos termos em que o fizeram (e que se revelaram desastrosos para as respectivas economias). O erro que lhes será apontado no futuro será o de não aprenderem com a história e prosseguirem pela mesma via.
Nota: o gráfico 1 foi corrigido, na sequência de um comentário de um leitor.
(Uma versão deste post em inglês foi entretanto publicada aqui.)
Uma tarde na Avenida
Paulo Pena (via facebook)
«Se não achassem que serve de alguma coisa sair à rua, as pessoas não sairiam. Não é só para estarmos juntos e aliviar a pressão. Não é só terapia. Há uma determinação de dentes cerrados, de resiliência, de "não nos iremos tão depressa nessa noite escura, nem pensem". Mas também um cansaço com as palavras de ordem, que se gritam poucas vezes, sem convicção. (...) Não é que estejamos tristes, derrotados. É outra coisa. Estamos fartos. Não partimos montras, não lançamos petardos, não queremos pancada com a polícia (que muito pouco se viu). Queremos o fim disto, e já nem temos pachorra para explicar, para inventar gritos novos. É bom que nos oiçam, mesmo calados - porque estamos a dizer chega. E nem nós somos capazes de antecipar o que pode vir depois.»
Fernanda Câncio, «E depois do silêncio»
«Fui à manifestação. Quem não percebe a abrangência da contestação não percebe nada. As pessoas podem não saber o que querem, mas sabem que não querem isto. Novos e velhos, de esquerda e de direita, pobres e menos pobres.»
Pedro Marques Lopes (via facebook)
sábado, 2 de março de 2013
Grândolas
Para o dia em que todas as ruas e praças do país serão avenidas de liberdade. Mário Laginha e Bernardo Sassetti no Encontro «1001 Culturas», organizado por Miguel Portas e que teve lugar a 4 e 5 de Julho de 2008, na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa.
sexta-feira, 1 de março de 2013
«Na direcção correcta», não é?
A Europa, e de forma particular a Zona Euro, começa a sentir na pele os mais que previsíveis impactos da austeridade. Entre nós, o primeiro-ministro, que lidera um governo empenhado em «ir além da troika», considera que «estamos na direcção correcta [e que] não existe necessidade de alterar a trajectória». Amanhã é dia 2 de Março.
Voltar a tentar?
Leio Teresa de Sousa, no Público, há para aí um par de décadas e lembro-me dos anos que andou a prometer amanhãs europeus e globais que cantam e a saudar a esquerda que abdicou do essencial do seu programa, da sua identidade, nesses dois processos de imbricada construção política neoliberal. Agora, como a sua crónica no Público de ontem ilustra, e perante óbvios fracassos, continua a projectar sobre o passado e o presente as mesmas ilusões. Começa por Delors e Mitterrand, pela forma como chegaram ao estatuto de santos europeus, graças primeiramente à viragem que operaram, no início dos anos oitenta, de um ambicioso programa de esquerda para um programa de rendição à pressão dos capitais através da austeridade. Esta foi justificada, em última instância, pelos compromissos com a integração europeia, já que continuar um programa socialista transformador obrigava a rupturas com as tendências liberais aí inscritas. Teresa de Sousa acha que se evitou uma catástrofe com esta viragem. Eu acho que, na realidade, a catástrofe tem aí um marco político essencial: desemprego de massas continuado, liberalização e desregulação financeiras, o grande e muito duvidoso contributo da elite socialista francesa para a história económica do período por via nacional e europeia. Toda esta rendição activa culmina em Maastricht, o início da história de uma aberração monetária que subalternizou a França, um dos países que mais tinha e tem a ganhar com uma moeda muito menos forte. Segundo Teresa de Sousa, a “desindustrialização” francesa só pode agora ser travada através de reformas que Hollande, declarado da mesma escola dos tais santos europeus, irá tentar implementar. Neste contexto monetário e com estas regras europeias, as tais reformas serão sempre prejudiciais ao mundo do trabalho e não travarão o processo, como anteriores impulsos “reformistas” indicaram (ai como eu anseio por um tempo onde esta palavra ganhe de novo o cunho progressista que já foi o seu, incluindo na sua declinação estrutural…). Ser sério na ideia de travar a tal “desindustrialização” obriga a romper com uma parte da história política da social-democracia francesa desde os anos oitenta e com a europeização e globalização realmente existentes para a qual também contribuiu.
Irresponsáveis, irrealistas e utópicos
Ontem, enquanto se cantava a Grândola à porta, Passos Coelho voltou a afirmar que todos aqueles que defendem alternativas
ao caminho da Troika são irrealistas e irresponsáveis.
Para o governo, realista é em Junho de 2011 assinar-se um programa baseado em previsões de dívida pública de 115% do PIB para 2013 e, no inicio deste ano, essas previsões já terem saltado para 122%. Também é realista fechar um orçamento de estado com uma previsão de quebra do PIB de 1% e, em Fevereiro, já estar a admitir que essa quebra será o dobro. Responsável é assinar um acordo de financiamento que previa que a taxa de desemprego atingiria o seu pico em 2012 nos 13%, um ano e meio depois ela já estar nos 17,6% e continuar a achar que o programa é uma boa ideia.
Na perspetiva do governo, é irrealista querer admitir os verdadeiros custos económicos e sociais desta crise e mudar, já, de rumo. É irresponsável enfrentar os credores que for preciso para começar, já, uma politica de recuperação económica e de criação de emprego. Para a direita, aqueles que acreditam num futuro onde a economia esteja ao serviço das pessoas e não seja escrava dos mercados são utópicos.
Para esses, resta juntar-se a um grupo de ladrões de bicicletas e pedalar por aí!
Ou então pedalar avenida abaixo, neste 2 de Março, com tantas outras pessoas que acreditam num futuro melhor e numa economia que nos leve até ele...
Para o governo, realista é em Junho de 2011 assinar-se um programa baseado em previsões de dívida pública de 115% do PIB para 2013 e, no inicio deste ano, essas previsões já terem saltado para 122%. Também é realista fechar um orçamento de estado com uma previsão de quebra do PIB de 1% e, em Fevereiro, já estar a admitir que essa quebra será o dobro. Responsável é assinar um acordo de financiamento que previa que a taxa de desemprego atingiria o seu pico em 2012 nos 13%, um ano e meio depois ela já estar nos 17,6% e continuar a achar que o programa é uma boa ideia.
Na perspetiva do governo, é irrealista querer admitir os verdadeiros custos económicos e sociais desta crise e mudar, já, de rumo. É irresponsável enfrentar os credores que for preciso para começar, já, uma politica de recuperação económica e de criação de emprego. Para a direita, aqueles que acreditam num futuro onde a economia esteja ao serviço das pessoas e não seja escrava dos mercados são utópicos.
Para esses, resta juntar-se a um grupo de ladrões de bicicletas e pedalar por aí!
Ou então pedalar avenida abaixo, neste 2 de Março, com tantas outras pessoas que acreditam num futuro melhor e numa economia que nos leve até ele...
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013
Da solidariedade europeia
Uma das exigências feita amiúde no contexto da crise do euro é a de uma maior solidariedade orçamental dos países europeus mais ricos para com os países mais pobres. Curioso observar como o que está a acontecer é exactamente o contrário.
O BCE anunciou na semana passada os seus lucros com a dívida pública dos países periféricos comprada no mercado secundário – no caso português o valor da dívida detida pelo BCE é de quase 23 mil milhões de euros. Em 2012, o Banco Central lucrou mil milhões de euros com os juros dos títulos gregos, portugueses, italianos, irlandeses e espanhóis. Não é muito. No entanto, segundo o Financial Times, se se tiver em conta o lucro não só do BCE, mas de todo o Eurosistema - que, no caso, diz sobretudo respeito aos bancos centrais dos países mais ricos -, o seu montante sobe para 14 mil milhões. Os juros pagos pelos países periféricos permitem lucros aos bancos centrais nacionais dos países mais ricos que, por sua vez, os transferirão para os seus orçamentos nacionais. Conclusão, através do negócio da dívida pública os estados periféricos subsidiam os estados do centro. Faz sentido.
Há uma excepção neste esquema, a Grécia. Neste caso, os lucros provenientes da dívida grega serão, em princípio, devolvidos a este país. “Bom aluno”, certo?
O BCE anunciou na semana passada os seus lucros com a dívida pública dos países periféricos comprada no mercado secundário – no caso português o valor da dívida detida pelo BCE é de quase 23 mil milhões de euros. Em 2012, o Banco Central lucrou mil milhões de euros com os juros dos títulos gregos, portugueses, italianos, irlandeses e espanhóis. Não é muito. No entanto, segundo o Financial Times, se se tiver em conta o lucro não só do BCE, mas de todo o Eurosistema - que, no caso, diz sobretudo respeito aos bancos centrais dos países mais ricos -, o seu montante sobe para 14 mil milhões. Os juros pagos pelos países periféricos permitem lucros aos bancos centrais nacionais dos países mais ricos que, por sua vez, os transferirão para os seus orçamentos nacionais. Conclusão, através do negócio da dívida pública os estados periféricos subsidiam os estados do centro. Faz sentido.
Há uma excepção neste esquema, a Grécia. Neste caso, os lucros provenientes da dívida grega serão, em princípio, devolvidos a este país. “Bom aluno”, certo?
Mais ladrões
Tenho o prazer de vos anunciar que este blogue será muito em breve reforçado: a Sara Rocha, economista e activista da Iniciativa para uma Auditoria Cidadã à Dívida, e o João Galamba, economista e deputado, aceitaram o nosso convite para pedalar. Mais política, economia, economia política e política económica, sem separações artificiais, ancoradas numa esquerda que se quer tão plural quanto convergente no essencial, como diz a nossa apresentação.
Depois do 2 de Março: O país avalia a troika
«Quando a troika chega a Portugal para avaliar pela sétima vez o cumprimento do memorando de entendimento, o Congresso Democrático das Alternativas (CDA) promove uma outra avaliação.
Num contexto em que as previsões falham redondamente e nos ameaçam com mais cortes no Estado Social, é necessário um juízo crítico e rigoroso sobre as reais consequências para Portugal de dois anos de aplicação do memorando, nomeadamente no aumento da pobreza, das desigualdades e do desemprego, na fragilização das relações de trabalho, nos retrocessos na saúde e na educação, nas violações dos direitos sociais e constitucionais, na destruição da economia, no aumento da dívida, no estrangulamento orçamental, nos custos ambientais.
Recolhendo o contributo de especialistas e abrindo o debate à sociedade, o CDA convoca o sentido crítico e as alternativas para uma sessão pública aberta a todos e todas. É o momento de ser o País a avaliar a troika.»
Leituras
«Temos depois o caso do Terreiro do Paço onde só a continuada corrosão de carácter não paga imposto. Os factos não querem nada com Gaspar e o pior é que Gaspar também não quer nada com eles. Foi Gaspar que pretendeu impor uma mudança radical na TSU sem nunca provar a existência do tal "estudo" que alegadamente sustentava a medida. É o mesmo Gaspar que está confortável com um erro de 100% na sua previsão de recessão para 2013 e que, em cima desse surrealismo estratégico, desenhou um orçamento que agora se prepara para rever maquiavelicamente alegando que há compromissos (!) a cumprir (com quem?). (...) Este Executivo é um fracasso que governa para o falhanço dentro de ti ó falsidade.»
Do artigo de Sandro Mendonça no Diário Económico, «Fal-si-da-de»
«Depois de o Governo se ter rendido à realidade – o desastroso último trimestre de 2012 colocou o desemprego nos 17% - e admitido que precisa de mais tempo para o ajustamento, o País questiona-se sobre como foi possível chegar aqui. Há três hipóteses para explicá-lo. (...) Não é preciso concluir se Gaspar é um analista inexperiente, um jogador maquiavélico ou um estratega sádico para saber que, desde já, se impõem duas consequências: primeiro, que já não reúne condições para continuar como ministro das Finanças. Segundo, que, com o que sabemos hoje das economias portuguesa e europeia, o nosso ajustamento, precisa, para ser credível, não só de mais tempo, mas de ser qualitativamente diferente.»
Do artigo de Hugo Santos Mendes no Diário Económico, «Três hipóteses»
«Temos andado a viver claramente aquém das nossas possibilidades. A nossa política vive aquém das suas possibilidades políticas - ou seja, das possibilidades de nos dar novos possíveis. Quiseram convencer-nos de que o nosso grande problema foi termos andado vários anos a viver além - acima, para lá - das nossas possibilidades. É mentira, raios! Foi precisamente o contrário que aconteceu: andámos a viver aquém das nossas possibilidades enquanto portugueses, enquanto europeus e enquanto cidadãos. (...) A democracia, a inteligência e a vida dão-nos mais possibilidades do que isto. É preciso começar a viver de acordo com essas possibilidades.»
Do artigo de Rui Tavares no Público, «Aquém»
Do artigo de Sandro Mendonça no Diário Económico, «Fal-si-da-de»
«Depois de o Governo se ter rendido à realidade – o desastroso último trimestre de 2012 colocou o desemprego nos 17% - e admitido que precisa de mais tempo para o ajustamento, o País questiona-se sobre como foi possível chegar aqui. Há três hipóteses para explicá-lo. (...) Não é preciso concluir se Gaspar é um analista inexperiente, um jogador maquiavélico ou um estratega sádico para saber que, desde já, se impõem duas consequências: primeiro, que já não reúne condições para continuar como ministro das Finanças. Segundo, que, com o que sabemos hoje das economias portuguesa e europeia, o nosso ajustamento, precisa, para ser credível, não só de mais tempo, mas de ser qualitativamente diferente.»
Do artigo de Hugo Santos Mendes no Diário Económico, «Três hipóteses»
«Temos andado a viver claramente aquém das nossas possibilidades. A nossa política vive aquém das suas possibilidades políticas - ou seja, das possibilidades de nos dar novos possíveis. Quiseram convencer-nos de que o nosso grande problema foi termos andado vários anos a viver além - acima, para lá - das nossas possibilidades. É mentira, raios! Foi precisamente o contrário que aconteceu: andámos a viver aquém das nossas possibilidades enquanto portugueses, enquanto europeus e enquanto cidadãos. (...) A democracia, a inteligência e a vida dão-nos mais possibilidades do que isto. É preciso começar a viver de acordo com essas possibilidades.»
Do artigo de Rui Tavares no Público, «Aquém»
Conversas sobre o senso comum
Amanhã, 28 de Fevereiro:
Em Coimbra, Ana Cristina Santos (socióloga e investigadora do CES) e Sónia Araújo (psicóloga e formadora da APF) perguntam: «Em tempos de crise, os direitos sexuais são um luxo?». É na Sala Arte à Parte, Cafeteria Bar (Rua Fernandes Tomás, 29), a partir das 21h30.
Em Lisboa, Paulo Pedroso (ex-secretário de Estado do PS) e João Carlos Louçã (Antropólogo e co-autor do documentário «Desamarras») questionam: «O RSI estimula a preguiça?». É no Espaço MOB (Travessa da Queimada, 33), a partir das 21h30.
Dia 1 de Março, no Porto
Conversa-se sobre se «Os ciganos não se querem integrar?», com Maria José Casa-Nova (antropóloga) e Maria José Vicente (socióloga). É na Contagiarte (Rua Álvares Cabral, 372) a partir das 21h30.
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
Chegou a hora da verdade
Com o impasse político em Itália, a crise do euro está de volta, dizem os analistas. Na verdade, a crise nunca tinha ido embora porque o desemprego esteve sempre a subir na maior parte da Europa. As declarações de Mário Draghi no Verão de 2012, destinadas a apoiar o euro, a que se juntou a discussão de uma futura União Bancária, apenas travaram no curto prazo o colapso monetário e financeiro da zona euro, mas não travaram a marcha para o abismo das sociedades afectadas pela austeridade. Agora, mais de metade dos eleitores italianos quer mudar de rumo e, no mínimo, aceita um referendo sobre a saída da zona euro.
Por muito tentador que seja destacar a demagogia e o vazio programático do Movimento 5 Estrelas, o que mais importa é perceber as razões do seu fulgurante crescimento eleitoral. No essencial, as razões resumem-se em muito poucas palavras: desemprego e ausência de alternativa política. Hoje, tal como no período entre as duas grandes guerras do século passado, a política económica europeia está amarrada pelos dogmas do livre comércio e dos câmbios fixos (agora a moeda única, na altura o padrão-ouro). Na Alemanha, no inverno de 1932/33, após reduções dramáticas no subsídio de desemprego, quase metade das famílias de trabalhadores dependia de alguma forma de assistência pública.
Na prática, os sociais-liberais do PD italiano, partidários de uma austeridade suave dentro do euro, perderam as eleições. Os partidos à esquerda foram ignorados. A razão está à vista: não têm política económica alternativa. Ideologicamente vinculado ao europeísmo da moeda única e à globalização comercial e financeira, apenas resta a Pier Luigi Bersani esperar que estes resultados eleitorais convençam o triângulo Berlim-Bruxelas-Frankfurt a suspender a austeridade. Já agora, também na Grécia, na Irlanda, na Espanha e em Portugal. Perante o desespero que se instala, uma oposição centrista, com pose de respeitabilidade estudada, com retórica de “mais tempo para fazer o mesmo”, com programa que não explica como haverá investimento sem procura, tal oposição, não terá futuro nem dará futuro ao país.
No dia 2 de Março, o povo português está convocado para descer à rua e mostrar à troika e ao seu governo que não está disposto a deixar-se esmagar por um projecto político europeu feito à medida da finança e das elites beneficiárias da globalização desenfreada. Oxalá a manifestação seja exemplar. Ainda assim, não basta. Como bem explicou um respeitável analista político (Público, 25 Fev., p. 8), “gerir este “empobrecimento competitivo” de forma prolongada é o grande desafio da democracia. (…) mantendo o actual sistema partidário intacto, quererá dizer que “aguentaram””. Não podia ser mais claro.
De facto, só quando convertermos a energia do protesto de massa num programa político com política económica alternativa, fundamentada, sem meias palavras, assumida por cidadãos livres, então ficará claro que não vamos mesmo aguentar. Chegou a hora da verdade.
Eu vou
Eu vou à manifestação de 2 de Março. E são muitas as razões para não ficar em casa a assistir, pela televisão, enquanto outros lutam por mim.
(crónica publicada à quarta-feira no jornal i)
1. Os portugueses enfrentam uma taxa de desemprego de 17% e os jovens, em particular, uma taxa de 40%. Nunca este país conheceu taxas de desemprego desta dimensão. É óbvio para quase todos que a política de austeridade é a principal responsável pelo estrangulamento da economia portuguesa e, consequentemente, pela destruição de empresas e emprego. É óbvio, mas o governo e a troika persistem no erro.
2. A austeridade tem de ser derrotada: a que está para lá da troika, mas também a que se fica pela troika. Em contexto de recessão, a austeridade é sempre perversa. Não existe uma versão virtuosa. Numa economia em contração, quando o Estado corta na despesa ou aumenta os impostos, o resto da economia cai mais.
3. O governo e a troika não aprenderam com o fracasso da sua receita. O alargamento do prazo de ajustamento, por mais um ano, pedido pelo governo, não é para evitar ou para reduzir a austeridade a impor no futuro, mas sim porque a austeridade praticada no passado tornou impossível atingir a meta previamente acordada.
4. Não podemos permitir que curtas flexibilizações das metas e tímidas reestruturações da dívida continuem a ser feitas em cima de milhares de empresas e de empregos destruídos. Precisamos de uma verdadeira e profunda renegociação do programa de ajustamento e de uma séria e responsável reestruturação da dívida, precisamente, para evitar essa destruição. Não depois do mal estar todo feito, mas a tempo de evitar mais estragos.
5. Se é da União Europeia que pode vir parte da solução para a crise que atravessamos, então vamos mostrar aos líderes europeus que o povo português não partilha a postura submissa de Passos Coelho e de Vítor Gaspar. Vamos fazer com que se ouça em Berlim, Paris e Bruxelas o “basta” dos portugueses à austeridade. Seremos parte de um coro europeu.
6. Sim, sou deputado. E nessa condição combato este governo e a política de austeridade onde posso. E sim, sou cidadão português. E nessa condição combato este governo e a política de austeridade onde posso. Por isso, dia 2 de Março vou estar na rua.
(crónica publicada à quarta-feira no jornal i)
Apertem os cintos
Cito de memória o diálogo de um filme dos anos oitenta, «Aeroplano» (de Jim Abrahams e Jerry e David Zucker). Quando o avião se começa a descontrolar, um dos assistentes sugere um conjunto de procedimentos ao impreparado e improvisado piloto, tendo em vista estabilizar o aparelho. Mas o piloto responde que não, que nem pensar, que «fazer isso seria uma loucura irresponsável». Para dizer, de seguida, o que decidira fazer, em alternativa ao que lhe era proposto: levar a cabo os procedimentos que lhe tinham acabado de recomendar.
Vem isto a propósito, evidentemente, das garantias ontem dadas por Passos Coelho, de que «Portugal não quer nem mais dinheiro nem mais tempo» da troika. De facto, ao ser confrontado com o descarrilamento total dos objectivos do Memorando de Entendimento, o que o primeiro-ministro vai fazer é apenas discutir a possibilidade de dilatar, em mais um ano, o prazo estabelecido para o cumprimento do défice, nos 3% fixados pela UE. Nada de mais tempos nem de mais dinheiros, nem pensar. Mas não será isto uma espécie de renegociação? Sim. Só que nada tem que ver com as propostas loucas e irresponsáveis que têm sido feitas, à esquerda, nesse sentido. «Estamos na direcção correcta. Não existe necessidade de alterar a trajectória», afiança Passos Coelho.
O que quer isto dizer? Que a crise está superada? Não. O desemprego que alastra, as falências em catadupa, o empobrecimento sem fim estão aí para o demonstrar: estamos hoje muito pior do que quando a maioria de direita tomou posse. Quer então dizer que a austeridade está finalmente a chegar ao fim, a tornar-se desnecessária? Não. O primeiro-ministro prepara-se para reforçar a dose, antecipando para 2013 o corte de mais 4 mil milhões na despesa pública e esboroando assim ainda mais o consumo interno, numa economia que já se encontra em farrapos.
O que isto quer dizer é, como assinalava o Nuno Teles no dia em que o governo celebrava a fraude do «regresso aos mercados», que estamos a entrar formalmente no segundo resgate. Isto é, o financiamento de mercado chegar-nos-á eventualmente graças às intervenções do BCE, enquanto garante de última instância das dívidas soberanas dos países da zona euro. E a austeridade, que se prolongará criminosamente, está agora inscrita nas «condicionantes» referidas por Mario Draghi para que o BCE possa exercer esse papel, quando a troika já não andar por cá. Novas, redobradas e sucessivas medidas de corte orçamental e aumento de impostos, numa espiral destrutiva que não terá fim. É a isto que Passos Coelho e Vítor Gaspar chamam o início do fim do Memorando de Entendimento.
No Brasil, o título do filme de Jim Abrahams e Jerry e David Zucker foi traduzido por «Apertem os cintos... O piloto sumiu!». Sim, apertem os cintos: é isso que nos vão continuar a pedir para fazer, enquanto o avião continua a despenhar-se. Sim, apertem os cintos: o piloto não sumiu, apenas entrou em modo automático. Sim, apertem os cintos: mesmo que isso, como até aqui, não nos vá valer de rigorosamente nada. Se não for detido, o avião prosseguirá a sua rota suicida, até ao impacto final.
Vem isto a propósito, evidentemente, das garantias ontem dadas por Passos Coelho, de que «Portugal não quer nem mais dinheiro nem mais tempo» da troika. De facto, ao ser confrontado com o descarrilamento total dos objectivos do Memorando de Entendimento, o que o primeiro-ministro vai fazer é apenas discutir a possibilidade de dilatar, em mais um ano, o prazo estabelecido para o cumprimento do défice, nos 3% fixados pela UE. Nada de mais tempos nem de mais dinheiros, nem pensar. Mas não será isto uma espécie de renegociação? Sim. Só que nada tem que ver com as propostas loucas e irresponsáveis que têm sido feitas, à esquerda, nesse sentido. «Estamos na direcção correcta. Não existe necessidade de alterar a trajectória», afiança Passos Coelho.
O que quer isto dizer? Que a crise está superada? Não. O desemprego que alastra, as falências em catadupa, o empobrecimento sem fim estão aí para o demonstrar: estamos hoje muito pior do que quando a maioria de direita tomou posse. Quer então dizer que a austeridade está finalmente a chegar ao fim, a tornar-se desnecessária? Não. O primeiro-ministro prepara-se para reforçar a dose, antecipando para 2013 o corte de mais 4 mil milhões na despesa pública e esboroando assim ainda mais o consumo interno, numa economia que já se encontra em farrapos.
O que isto quer dizer é, como assinalava o Nuno Teles no dia em que o governo celebrava a fraude do «regresso aos mercados», que estamos a entrar formalmente no segundo resgate. Isto é, o financiamento de mercado chegar-nos-á eventualmente graças às intervenções do BCE, enquanto garante de última instância das dívidas soberanas dos países da zona euro. E a austeridade, que se prolongará criminosamente, está agora inscrita nas «condicionantes» referidas por Mario Draghi para que o BCE possa exercer esse papel, quando a troika já não andar por cá. Novas, redobradas e sucessivas medidas de corte orçamental e aumento de impostos, numa espiral destrutiva que não terá fim. É a isto que Passos Coelho e Vítor Gaspar chamam o início do fim do Memorando de Entendimento.
No Brasil, o título do filme de Jim Abrahams e Jerry e David Zucker foi traduzido por «Apertem os cintos... O piloto sumiu!». Sim, apertem os cintos: é isso que nos vão continuar a pedir para fazer, enquanto o avião continua a despenhar-se. Sim, apertem os cintos: o piloto não sumiu, apenas entrou em modo automático. Sim, apertem os cintos: mesmo que isso, como até aqui, não nos vá valer de rigorosamente nada. Se não for detido, o avião prosseguirá a sua rota suicida, até ao impacto final.
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
As nossas grilhetas
Temos insistido, desde há vários anos, que tentar desenhar políticas a pensar nos voláteis e especulativos “mercados” é um exercício votado ao fracasso. Pois bem, um estudo recente de Paul De Grauwe e Yuemei Ji indica como a severidade da austeridade periférica é precisamente a expressão desse exercício votado ao fracasso em Estados sem soberania monetária, presos numa moeda que não controlam. O resto também era previsível e foi previsto: quanto mais intensa é a austeridade, maior a quebra do PIB e maior o subsequente aumento do peso da dívida no PIB. No fundo, trata-se de um estudo sobre efeitos perversos de ideias perversas inscritas em arranjos institucionais perversos. Deixo-vos dois gráficos ilustrativos das duas relações acima indicadas e uma mensagem que tem de ser cada vez mais clara: “À medida que se torna óbvio que a austeridade produz sofrimento desnecessário, milhões poderão tentar libertar-se das ‘grilhetas do euro’”.
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013
Leituras
«A resposta, por mais que vejam, consecutivamente, que a austeridade conduz ao colapso da economia, a resposta [dos políticos europeus] é sempre mais e mais austeridade. (...) Isto lembra-me a medicina medieval. É como num sangramento, em que se tira sangue de um paciente porque a teoria diz que ele tem tumores malignos. Acontece que, quando se sangra, o paciente fica pior. E a resposta é fazer novos sangramentos, até que o paciente quase morre. O que está a acontecer à Europa é um pacto de suicídio mútuo.»
Joseph Stiglitz, em entrevista ao The Telegraph (via Câmara Corporativa)
«Quando a Europa deu asas à sua paixão pela austeridade, os seus altos funcionários não se preocuparam com o facto de a redução da despesa e o aumento de impostos em economias deprimidas aprofundar a depressão. Pelo contrário, eles insistiram em que essas políticas permitiriam relançar as economias, na medida em que inspiravam a confiança. Mas o conto de fadas da confiança não se realizou. Os países a que foram impostas medidas severas de austeridade entraram em profunda crise económica; quanto mais severa a austeridade, mais profunda a recessão. Na verdade, esse balanço tem sido tão forte que o próprio Fundo Monetário Internacional, num impressionante mea culpa, admitiu ter subestimado os danos que a austeridade iria infligir.»
Paul Krugman, «Austerity, Italian Style»
«Olli Rehn deixou tudo muito claro na passada sexta-feira. Perante as péssimas perspectivas de crescimento e emprego foi-lhe perguntado: "Encara alguma possibilidade de rever o programa grego?" (...) "A chave da recessão na Grécia não se explica principalmente pela austeridade, mas antes pela instabilidade política do país e pelos defeitos na implementação das reformas estruturais", respondeu o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos. Mas a falha desta argumentação é que o abismo entre a realidade e os desejos de Bruxelas não afecta somente Atenas. (...) Os argumentos de Rehn não convencem a comunidade científica. A maioria dos dez economistas internacionais consultados pelo nosso jornal, acusa a Comissão por se ter empenhado em impor receitas que demonstraram estar erradas e de não ter mudado de rumo quando as suas políticas se estatelavam contra a realidade. (...) "A Comissão é a única a não ver o que se passava. São os responsáveis pela recessão, por terem empurrado todos os países ao mesmo tempo para uma cura de austeridade. Estamos numa recessão que foi auto-imposta. Não podiam ter sido mais estúpidos", dispara Paul de Grauwe, professor da London School of Economics.»
Da reportagem de Luís Doncel no El País, «Olli Rehn: veredicto, culpado»
Em dia de mais uma chegada da troika à Portela, é oportuno assinalar o fracasso da receita europeia e o aprofundar da crise. Mas é hora também de perguntar por Gaspar, o bom aluno siamês da linha económica com que se cose (e nos cose) Olli Rehn e a Comissão Europeia de Barroso. E de interpelar Portas e Passos, que se empenharam (e pretendem continuar empenhados) em «ir além da troika», exponenciando os efeitos criminosos da terapia austeritária. Tal como questionar Cavaco Silva, o candidato à presidência que acenava com a mais-valia, para o país, dos seus conhecimentos em Economia - mas que hoje apenas rompe o silêncio por causa das duas vogais com que se entretém. E perguntar pelas televisões, que mantém no ar, em horário nobre, os apóstolos cúmplices do desastre, os Camilos, os Bessas, os Catrogas, os Césares das Neves, os Medinas e restante comandita, poupando-os ao confronto com o fracasso dos seus mantras e demagogias.
Joseph Stiglitz, em entrevista ao The Telegraph (via Câmara Corporativa)
«Quando a Europa deu asas à sua paixão pela austeridade, os seus altos funcionários não se preocuparam com o facto de a redução da despesa e o aumento de impostos em economias deprimidas aprofundar a depressão. Pelo contrário, eles insistiram em que essas políticas permitiriam relançar as economias, na medida em que inspiravam a confiança. Mas o conto de fadas da confiança não se realizou. Os países a que foram impostas medidas severas de austeridade entraram em profunda crise económica; quanto mais severa a austeridade, mais profunda a recessão. Na verdade, esse balanço tem sido tão forte que o próprio Fundo Monetário Internacional, num impressionante mea culpa, admitiu ter subestimado os danos que a austeridade iria infligir.»
Paul Krugman, «Austerity, Italian Style»
«Olli Rehn deixou tudo muito claro na passada sexta-feira. Perante as péssimas perspectivas de crescimento e emprego foi-lhe perguntado: "Encara alguma possibilidade de rever o programa grego?" (...) "A chave da recessão na Grécia não se explica principalmente pela austeridade, mas antes pela instabilidade política do país e pelos defeitos na implementação das reformas estruturais", respondeu o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos. Mas a falha desta argumentação é que o abismo entre a realidade e os desejos de Bruxelas não afecta somente Atenas. (...) Os argumentos de Rehn não convencem a comunidade científica. A maioria dos dez economistas internacionais consultados pelo nosso jornal, acusa a Comissão por se ter empenhado em impor receitas que demonstraram estar erradas e de não ter mudado de rumo quando as suas políticas se estatelavam contra a realidade. (...) "A Comissão é a única a não ver o que se passava. São os responsáveis pela recessão, por terem empurrado todos os países ao mesmo tempo para uma cura de austeridade. Estamos numa recessão que foi auto-imposta. Não podiam ter sido mais estúpidos", dispara Paul de Grauwe, professor da London School of Economics.»
Da reportagem de Luís Doncel no El País, «Olli Rehn: veredicto, culpado»
Em dia de mais uma chegada da troika à Portela, é oportuno assinalar o fracasso da receita europeia e o aprofundar da crise. Mas é hora também de perguntar por Gaspar, o bom aluno siamês da linha económica com que se cose (e nos cose) Olli Rehn e a Comissão Europeia de Barroso. E de interpelar Portas e Passos, que se empenharam (e pretendem continuar empenhados) em «ir além da troika», exponenciando os efeitos criminosos da terapia austeritária. Tal como questionar Cavaco Silva, o candidato à presidência que acenava com a mais-valia, para o país, dos seus conhecimentos em Economia - mas que hoje apenas rompe o silêncio por causa das duas vogais com que se entretém. E perguntar pelas televisões, que mantém no ar, em horário nobre, os apóstolos cúmplices do desastre, os Camilos, os Bessas, os Catrogas, os Césares das Neves, os Medinas e restante comandita, poupando-os ao confronto com o fracasso dos seus mantras e demagogias.
O que pode um país esperar?
O que pode um país esperar de uma combinação letal de incompetência, arrogância, ortodoxia económica e ligação a interesses que só prosperam quando a democracia é limitada? O que pode um país esperar de uma troika que insiste em aplicar com afinco uma receita, velha de décadas, que nunca funcionou e cujos estragos só foram minorados quando se dispôs de soberania monetária, de política cambial? O que pode um país esperar de quem disse que tudo no essencial ia bem, ao mesmo tempo que se evaporaram centenas de milhares de empregos, que se fragilizou a contratação colectiva e os direitos sociais, comprimindo ainda mais os rendimentos, a procura, ou seja, a principal razão, avançada pelos empresários, para a continuada quebra do investimento? O que pode um país esperar de quem procura disfarçar o que é inevitável e já está aliás em curso – uma reestruturação da dívida, mas nos tempos e nos interesses dos credores? É chegado então o momento de o país avaliar os avaliadores, denunciar o memorando e encetar um duro processo negocial, que reduza em profundidade o fardo da dívida e que permita recuperar instrumentos de política económica. Neste contexto, compreende-se que, nas ruas e não só, se insista em afirmar bem alto que “o povo é quem mais ordena”. Talvez no dia de 2 de Março tenha lugar a avaliação que mais conta.
Excertos no Público de hoje.
Excertos no Público de hoje.
domingo, 24 de fevereiro de 2013
2 de Março
Locais das manifestações agendadas no âmbito do «Movimento 2 de Março: o Povo é quem mais ordena» (via Aventar, em actualização): 10h00- Horta; 14h00- Tomar, Torres Novas; 14h30- Caldas da Rainha; 15h00- Braga, Coimbra, Covilhã, Londres, Marinha Grande, Paris (Consulado Geral de Portugal), Ponta Delgada, Santarém, Tomar, Viana do Castelo; 16h00- Aveiro, Beja, Castelo Branco, Chaves, Entroncamento, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Lisboa, Loulé, Portimão, Porto, Setúbal, Vila Real, Viseu; 16h30- Portalegre; 17h00- Barcelona; 18h00- Boston.
Pela n-ésima vez: a ‘produtividade do trabalho’ não é determinada pelo esforço dos trabalhadores
Volta não volta temos de voltar a isto. Um comentador económico aparece na televisão, põe um ar sério e ufano, e diz: “o problema da economia portuguesa é a baixa produtividade do trabalho”. E logo a seguir qualquer coisa do tipo “em Portugal trabalha-se pouco e mal” ou “os trabalhadores portugueses são preguiçosos” ou “é preciso liberalizar o mercado de trabalho para fazer as pessoas trabalhar mais”.
Este tipo raciocínio é tão absurdo que às vezes apetece-me responder ao mesmo nível, com algo do género:
QUEM DIZ QUE A BAIXA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO EM PORTUGAL SE DEVE À FALTA DE ESFORÇO DOS TRABALHADORES É IDIOTA OU DESONESTO – OU AMBOS.
Mas já percebi que esta é uma ideia feita que passa tão bem ou melhor que outros mitos do senso comum, pelo que vale a pena tentar, uma vez mais, desconstruir isto.
A produtividade é um conceito que remete para a relação entre factores produtivos e valor acrescentado pela produção. Ou seja, uma economia (ou um sector, uma empresa, etc.) é mais produtiva do que outra se consegue gerar mais valor acrescentado com os mesmos recursos, ou o mesmo valor acrescentado com menos recursos, ou uma mistura das duas. A produtividade, enquanto conceito, é importante porque existe uma forte associação entre o crescimento da produtividade e o crescimento económico – e, diria eu contra algumas sensibilidades, o aumento do bem-estar geral.
Se o conceito de produtividade é relativamente fácil de entender, é muitíssimo mais difícil de medir. O problema é que os factores produtivos são muitos e diversificados, e colocá-los sob a mesma unidade de medida é semelhante a querer comparar laranjas com maçãs.
Os factores de produção clássicos são a terra, o trabalho e o capital. Mas a terra não tem toda a mesma qualidade, existem infinitas formas de capital, e os tipos de trabalho utilizados na produção dos bens e serviços das sociedades modernas são tudo menos homogéneos – e, logo, dificilmente comparáveis. Para além disto poderíamos (e deveríamos) acrescentar factores de produção imateriais como o conhecimento científico e tecnológico, as formas de organização, etc. Medir isto tudo e colocar sob a mesma unidade de medida, para perceber se uma economia está a gerar mais ou menos valor com recursos produtivos equivalentes, é um bico-de-obra.
Esta é uma das razões pelas quais frequentemente se simplifica a análise usando um indicador que está facilmente disponível – um indicador que dá pelo maldito nome de “produtividade do trabalho”.
Em geral, quando os economistas falam em “produtividade do trabalho” referem-se a um rácio entre o valor acrescentado gerado numa economia e o número de trabalhadores (ou de horas trabalhadas) associados a essa produção num dado ano. Ou seja:
“Produtividade do trabalho”= “Valor acrescentado”/ “Nº de trabalhadores”
É só isto. Não há aqui nada a dizer se esta economia é muito ou pouco intensiva em capital (máquinas, equipamentos, redes de transportes e comunicações, etc.), nem a qualidade desse capital (já desgastado ou ainda novo, com grande incorporação de tecnologia avançada ou rudimentar), etc. Também não sabemos se esta economia recorre mais a trabalho altamente qualificado ou a mão-de-obra barata e desqualificada. Não sabemos se as empresas são bem ou mal geridas, como se posicionam nas cadeias de valor internacional, se assentam a sua competitividade nos baixos preços ou em factores avançados como o design de produto, a engenharia de produção ou a investigação e desenvolvimento.
O facto de o rácio acima apresentado ser mais elevado nuns países do que noutros é explicado por todos estes factores. Um país bem pode ter o povo mais esforçado do mundo que se não tiver máquinas e equipamentos modernos, boas infraestruturas e de transportes e comunicações, competências e conhecimentos avançados ou estratégias empresariais adequadas a cada contexto, terá sempre uma “produtividade do trabalho” modesta.
Por outras palavras, dizer que o nosso problema é a “baixa produtividade do trabalho” é o mesmo que dizer que chegámos ao que chegámos por culpa dos gambuzinos. Na verdade, é mais correcto atribuir a baixa produtividade da economia portuguesa aos gambuzinos do que dizer, com ar sério e ufano, que a culpa é da preguiça endémica que assola o nosso país.
Este post, escrito há mais de 5 anos, tentava avançar um pouco na discussão. Mas está visto que, volta não volta, temos de voltar ao tema.
Este tipo raciocínio é tão absurdo que às vezes apetece-me responder ao mesmo nível, com algo do género:
QUEM DIZ QUE A BAIXA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO EM PORTUGAL SE DEVE À FALTA DE ESFORÇO DOS TRABALHADORES É IDIOTA OU DESONESTO – OU AMBOS.
Mas já percebi que esta é uma ideia feita que passa tão bem ou melhor que outros mitos do senso comum, pelo que vale a pena tentar, uma vez mais, desconstruir isto.
A produtividade é um conceito que remete para a relação entre factores produtivos e valor acrescentado pela produção. Ou seja, uma economia (ou um sector, uma empresa, etc.) é mais produtiva do que outra se consegue gerar mais valor acrescentado com os mesmos recursos, ou o mesmo valor acrescentado com menos recursos, ou uma mistura das duas. A produtividade, enquanto conceito, é importante porque existe uma forte associação entre o crescimento da produtividade e o crescimento económico – e, diria eu contra algumas sensibilidades, o aumento do bem-estar geral.
Se o conceito de produtividade é relativamente fácil de entender, é muitíssimo mais difícil de medir. O problema é que os factores produtivos são muitos e diversificados, e colocá-los sob a mesma unidade de medida é semelhante a querer comparar laranjas com maçãs.
Os factores de produção clássicos são a terra, o trabalho e o capital. Mas a terra não tem toda a mesma qualidade, existem infinitas formas de capital, e os tipos de trabalho utilizados na produção dos bens e serviços das sociedades modernas são tudo menos homogéneos – e, logo, dificilmente comparáveis. Para além disto poderíamos (e deveríamos) acrescentar factores de produção imateriais como o conhecimento científico e tecnológico, as formas de organização, etc. Medir isto tudo e colocar sob a mesma unidade de medida, para perceber se uma economia está a gerar mais ou menos valor com recursos produtivos equivalentes, é um bico-de-obra.
Esta é uma das razões pelas quais frequentemente se simplifica a análise usando um indicador que está facilmente disponível – um indicador que dá pelo maldito nome de “produtividade do trabalho”.
Em geral, quando os economistas falam em “produtividade do trabalho” referem-se a um rácio entre o valor acrescentado gerado numa economia e o número de trabalhadores (ou de horas trabalhadas) associados a essa produção num dado ano. Ou seja:
“Produtividade do trabalho”= “Valor acrescentado”/ “Nº de trabalhadores”
É só isto. Não há aqui nada a dizer se esta economia é muito ou pouco intensiva em capital (máquinas, equipamentos, redes de transportes e comunicações, etc.), nem a qualidade desse capital (já desgastado ou ainda novo, com grande incorporação de tecnologia avançada ou rudimentar), etc. Também não sabemos se esta economia recorre mais a trabalho altamente qualificado ou a mão-de-obra barata e desqualificada. Não sabemos se as empresas são bem ou mal geridas, como se posicionam nas cadeias de valor internacional, se assentam a sua competitividade nos baixos preços ou em factores avançados como o design de produto, a engenharia de produção ou a investigação e desenvolvimento.
O facto de o rácio acima apresentado ser mais elevado nuns países do que noutros é explicado por todos estes factores. Um país bem pode ter o povo mais esforçado do mundo que se não tiver máquinas e equipamentos modernos, boas infraestruturas e de transportes e comunicações, competências e conhecimentos avançados ou estratégias empresariais adequadas a cada contexto, terá sempre uma “produtividade do trabalho” modesta.
Por outras palavras, dizer que o nosso problema é a “baixa produtividade do trabalho” é o mesmo que dizer que chegámos ao que chegámos por culpa dos gambuzinos. Na verdade, é mais correcto atribuir a baixa produtividade da economia portuguesa aos gambuzinos do que dizer, com ar sério e ufano, que a culpa é da preguiça endémica que assola o nosso país.
Este post, escrito há mais de 5 anos, tentava avançar um pouco na discussão. Mas está visto que, volta não volta, temos de voltar ao tema.
sábado, 23 de fevereiro de 2013
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013
Surpresas
A Comissão Europeia, que rivaliza com o BCE para saber qual dos dois é o mais “sadomonetarista” à escala mundial, declarou-se “surpreendida”, é da mesma escola de Gaspar, com os efeitos das políticas que preconiza. A CE fala de “desenvolvimentos pobres do mercado de trabalho”, precisamente agora que os trabalhadores estão mais pobres e inseguros, menos protegidos pelo direito e pela acção colectiva. A CE prevê que a taxa de desemprego atinja 17,5%: centenas de milhares de empregos destruídos é uma obra em co-autoria com o resto da troika e com a sua correia de transmissão que dá pelo nome enganador de Governo de Portugal. 2014, segundo esta gente, é que ainda é, embora fique o alerta conveniente: “as perspectivas macroeconómicas estão claramente orientadas para a baixa”, devido à austeridade que preconizam para os outros e para nós. Perante isto e perante as regras do jogo que explicam isto, alguém ainda pode esperar alguma coisa da famosa solidariedade europeia? Será que há alguma alternativa à desobediência que começa à escala nacional, onde a democracia ainda pode contar? Isso sim, será uma verdadeira surpresa para quem manda.
Ladrões
O Pedro Nuno Santos estará daqui a pouco, com a Sara Rocha, em mais um debate da Cultra, no Porto. A conversa de Senso Comum de hoje faz-se em torno da pergunta: «Não há dinheiro?» É às 21h30, na Contagiarte (Rua Álvares Cabral, 372).
Mais logo, o Ricardo Paes Mamede estará no Expresso da Meia-Noite, na SIC Notícias.
Mais logo, o Ricardo Paes Mamede estará no Expresso da Meia-Noite, na SIC Notícias.
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013
Vencer o medo que nos paralisa
Chegou a hora de, finalmente, a sociedade portuguesa perceber que o Tratado Fiscal Europeu, ao travar a política que em escala adequada nos poderia salvar do desastre, fará de Portugal um país de emigrantes, envelhecido, pobre e definitivamente periférico. Não foi este o projecto europeu a que Portugal aderiu em 1986, mas não é uma alternativa responsável ficar à espera das eleições alemãs de Setembro, ou da quimera de uma Europa federal e democrática, para sabermos se o país pode ser salvo.
Uma alternativa viável e portadora de fundada esperança existe, embora a maioria da população ainda tenha medo dela. À direita e à esquerda, são muitos os que infundem o medo enunciando as calamidades que ocorreriam se deixássemos o euro. Uns dizem que não haveria dinheiro para salários e pensões na função pública – o que é falso, porque seria possível emitir moeda para cobrir o défice primário (défice
sem juros) sem qualquer risco de hiperinflação. Outros lembram que uma grande desvalorização corresponderia a uma perda equivalente no valor das poupanças – o que é falso, porque elas apenas seriam penalizadas por uma subida dos preços através dos produtos importados, portanto numa escala muito inferior. Outros ainda dizem que os bancos iriam à falência – o que é falso, porque o estado
deveria nacionalizá-los para garantir os depósitos e preservar o seu funcionamento, pelo menos enquanto gere a reestruturação da sua dívida externa. Os argumentos contra a saída do euro, muitos deles revelando ignorância e má-fé, têm livre curso na comunicação social, enquanto os argumentos a favor são quase um tabu. Para sairmos desta crise vamos ter de vencer o medo que nos paralisa.
Transparência
A economia política parece muito transparente nos seus mecanismos básicos: Lobo Xavier propõe “paraíso fiscal” para grupos empresariais, segundo manchete do Negócios. É como se, neste caso, bastasse começar por saber a resposta à pergunta que o Negócios fez há algum tempo atrás: “O que têm em comum a Sonae, a Mota-Engil, o fundo Vallis, a Riopele, a Fundação Serralves, a SIC Notícias, a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, a ACEGE, a Associação Comercial do Porto, a Têxtil Manuel Gonçalves, a Jerónimo Martins e o CDS?” O resto é a natureza de um processo de integração feito para garantir externamente todas as vitórias internas desta gente.
Conversas sobre o Senso Comum, em Lisboa
Têm hoje início as sessões de Lisboa do Ciclo Conversas sobre o Senso Comum, promovido pela Cultra (Cooperativa Cultura, Trabalho e Socialismo). Ricardo Paes Mamede (Economista e larápio de bicicletas) e Sara Rocha (Economista e activista da IAC) dão o mote para a primeira conversa: «Sem Troika não há dinheiro para salários e pensões?». É no Espaço MOB, na Travessa da Queimada (Bairro Alto), a partir das 21h30.
A ideia de que o pedido de «ajuda financeira» (muitas aspas) à troika se revelou inevitável para assegurar o pagamento de salários e pensões é um dos pilares em que se sustentou, de forma mais decisiva, todo o processo de ajustamento e de intervenção externa (com o envelope ideológico que se lhes associa). E continua a ser um dos argumentos utilizados de forma recorrente pelo governo e pelos partidos da maioria que o suportam. Mas será que é mesmo assim? Havia alternativas? Onde é gasto o dinheiro relativo às tranches financeiras dessa «ajuda»? No pagamento de salários e pensões?
Subscrever:
Mensagens (Atom)












.JPG)