Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes.
domingo, 31 de dezembro de 2023
2024
Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes.
sábado, 30 de dezembro de 2023
Da incultura económica
sexta-feira, 29 de dezembro de 2023
Fedor ideológico
Olhem, o pequeno grande ditador da distribuição quer usar o seu brinquedo ideológico também herdado, a fundação pingo doce, para comprar ainda mais influência político-ideológica. São cada vez mais os que assim procedem: por exemplo, há dois milionários que financiam a IL indiretamente, pagando 70% das avultadas despesas do menos liberdade, quase 400 mil euros, em 2022. O ar ideológico fede, realmente.
quinta-feira, 28 de dezembro de 2023
Os liberais sabem mais?
quarta-feira, 27 de dezembro de 2023
De Delors a Schäuble
Inflação: um resumo do que mudou em 2023
terça-feira, 26 de dezembro de 2023
Era...
segunda-feira, 25 de dezembro de 2023
Este Natal, sabe bem pagar tão pouco?
sábado, 23 de dezembro de 2023
Feliz Natal
Tal situação não tem a ver apenas com a física ou a biologia, mas também com a economia e o nosso modo de a conceber. A lógica do máximo lucro ao menor custo, disfarçada de racionalidade, progresso e promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade. Nos últimos anos, podemos notar como às vezes os próprios pobres, confundidos e encantados perante as promessas de tantos falsos profetas, caem no engano dum mundo que não é construído para eles.
quinta-feira, 21 de dezembro de 2023
Livros lidos em 2023 e que serão úteis em 2024
Esta pancarta ilustra bem o ponto central de Clara Mattei, historiadora da economia política, num livro importante - The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism -, saído no final do ano passado.
Recorrendo a ampla evidência textual, fruto de trabalho de arquivo e do engajamento com obras de economistas relevantes, Mattei indica como a austeridade foi uma reação de classe antidemocrática, movida pelo medo do empoderamento da classe trabalhadora, que requereu todo um trabalho de argumentação económica, articulado com várias formas de violência política estatal.
Ao desenvolver o seu argumento historicamente informado, Mattei fornece uma útil elaboração conceptual das três formas articuladas de que a austeridade se revestiu e reveste: (1) austeridade orçamental, ou seja, cortes na despesa pública associada ao bem-estar e consolidação de um Estado fiscal regressivo; (2) austeridade monetária, ou seja, políticas deflacionárias, assentes na elevação da taxa de juro; (3) austeridade nas relações laborais, ou seja, todo o esforço regulatório e de política económica para garantir a disciplina e a hierarquia nas relações laborais, ou seja, para garantir direitos dos patrões e correlativas obrigações dos trabalhadores.
Num contexto marcado por iniciativas liberais, dentro e fora do governo, até dizer chega, trata-se de um livro de história que merece ser traduzido; bem traduzido, claro.
Recupero esta breve nota de leitura aqui publicada por duas razões. Em primeiro lugar, por causa da perigosa economia política liberal até dizer chega que é sempre necessário derrotar. Em segundo lugar, porque Clara Mattei será uma das oradoras convidadas do 7º Encontro Anual da Associação Portuguesa de Economia Política, que se realiza no ISEG entre 25 e 27 de janeiro de 2024.
quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
Atitudes e ecos
O ECO funciona como eco do patronato mais medíocre. Só isso pode justificar tal perdócio. Têm uma revista e tudo. Deve ser comprada por empresas para distribuírem gratuitamente, não sei, nem me interessa. Nem dada.
terça-feira, 19 de dezembro de 2023
E já só há o Estado a que isto chegou
Qualquer mudança pressupõe a superação da forma neoliberal de Estado, indissociável daquele modelo de capitalismo e da integração europeia, sem a qual, de resto, ambos são incompreensíveis. Esta forma neoliberal é, simplesmente, incompatível com a mudança de modelo, quer por falta de instrumentos de política, quer pelos enviesamentos de classe que tal situação gera. Uma nova forma de Estado exigirá, certamente, um investimento na capacitação técnica para o planeamento, deliberadamente desmantelada nas últimas décadas, mas não poderá ficar refém da ilusão tecnocrática de que o Estado e as suas políticas, qual caixa negra de ferramentas, pairam acima das forças sociais em presença na formação portuguesa. Na realidade, temos a obrigação de saber que o Estado é em simultâneo um campo central do conflito social e um seu árbitro sempre parcial.
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
sábado, 16 de dezembro de 2023
Nacionalizar o PISA para relativizar a pandemia
«Os nossos alunos de 15 anos pioraram mais do que a média dos outros países da OCDE em todos os domínios», escreveu Miguel Herdade. «A queda portuguesa não é um caso isolado, mas quando comparamos com a média da OCDE, a nossa queda é 6 pontos superior a Matemática e 5 pontos superior em Leitura e Ciências», referiu Pedro Freitas. «Apesar de o trambolhão nos resultados ser generalizado, o que reflete a catástrofe educacional da pandemia, em Portugal foi pior», garantiu Susana Peralta. «A queda dos alunos portugueses foi mais acentuada do que a queda média da OCDE: -15 pontos em Leitura e -20 pontos em Matemática. Esta constatação sugere que algo correu pior em Portugal», remata Alexandre Homem Cristo. Com nuances, o coro foi uníssono.
Importa lembrar, desde logo, que os resultados de Portugal no PISA de 2022 estão alinhados com os da OCDE. A Matemática, o mesmo valor obtido à escala daquela organização (472 pontos). A Leitura, Portugal (477) com um ponto acima da OCDE (476). A Ciências, um ponto a menos para Portugal (484). O que significa que, na média das três literacias, Portugal e a OCDE registam exatamente o mesmo valor em 2022: 478 pontos.
Em termos de variação dos resultados entre 2018 e 2022, por outro lado, não basta dizer, como Alexandre Homem Cristo, que a queda de Portugal é de 15 valores a Leitura e 20 a Matemática. Importa referir, nesse contexto, e para não escamotear o impacto da pandemia, quanto desce a OCDE (cuidado que teve Pedro Freitas). E perceber, assim, que as diferenças face à organização (-5,9 pontos a Matemática e -5,3 pontos a Leitura) não são estatisticamente significativas, como se constata na página da OCDE e assinala o João Marôco (que daí infere, contudo, a conclusão inversa). Ao contrário do que sucede com países como a Alemanha, França, Finlândia e Países Baixos, entre outros à escala da UE, cujas diferenças permitem falar, aí sim, em quedas relevantes face à da OCDE.
Cortejos fúnebres
António Nogueira Leite, Daniel Bessa e João Moreira Rato integram o cortejo fúnebre da economia portuguesa; Margarida Rebelo Pinto o cortejo fúnebre da literatura portuguesa; Pedro Granger o cortejo fúnebre da representação portuguesa; Manuel Luís Goucha o cortejo fúnebre da televisão portuguesa; Luís Filipe Pereira o cortejo fúnebre da saúde portuguesa; Jorge Bravo o cortejo fúnebre da segurança social portuguesa; Fernando Santos o cortejo fúnebre do futebol e do fisco portugueses...
sexta-feira, 15 de dezembro de 2023
Não foi embora
Corria o ano de 1986, em Coimbra, e a minha mãe levou-me ao primeiro desfile do 1º de Maio de que me recordo: “está na hora, está na hora, do Cavaco se ir embora”, gritei então pela primeira vez. Não foi embora. Um ano depois, o PSD obteria a sua primeira maioria absoluta: “paz, pão, povo e liberdade; todos sempre unidos no caminho da verdade” foi a enganadora expressão musical da hegemonia neoliberal em construção.
quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
Um minuto de silêncio
A direita quer que o mercado crie riqueza para quem?
quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
Da economia política das iniciativas liberais
ANA pagou em dez anos concessão dos aeroportos que vai durar meio século. Lucros do contrato de concessão já pagaram investimento de 1200 milhões de euros. ANA explica resultado com a qualidade da gestão.
terça-feira, 12 de dezembro de 2023
Um jornal no centro do debate
A construção político-mediática do «centro» como lugar onde teriam de desaguar inevitavelmente os partidos candidatos às eleições está, outra vez, em quase todas as bocas. «Sem ganhar o centro», «sem conquistar o eleitorado moderado» não se ganham eleições, repete-se até à exaustão, com algumas, mas não muitas, variações. Por vezes acrescenta-se «não em Portugal», como que para reforçar uma especificidade que credibilizaria a teoria e isentaria de fazer comparações com outras geografias. Quando uma ideia satura quase todo o espaço do debate é aconselhável desconfiar. Qual a sua função e que forças beneficiam dela?
segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
Tweets bonitos sobre direitos humanos
«Parece paródia mas não dá vontade de rir. Em Gaza matam-se crianças à velocidade de mil por semana. Neste momento passa-se fome coletiva. Os EUA votaram sozinhos na UN contra um cessar fogo humanitário. Mas escrevem tweets bonitos sobre direitos humanos»
Daniel Carrapa (twitter)
domingo, 10 de dezembro de 2023
sexta-feira, 8 de dezembro de 2023
O PISA é bem mais que uma conversa doméstica
«"Sem precedentes". É assim que a OCDE qualifica a queda generalizada dos resultados na edição de 2022 do PISA (Programme for International Student Assessment), face aos valores médios alcançados pela organização em 2018. São menos 15 pontos a Matemática e menos 10 pontos a Leitura, numa escala de 0 a 1000, quando as pontuações da OCDE nunca oscilaram mais do que 4 pontos nestes domínios, em edições consecutivas do PISA, desde 2020. A literacia em Ciências é a única a não se alterar significativamente.
Portugal acompanha esta tendência de queda significativa de resultados ao nível da OCDE, entre 2018 e 2022, com uma diminuição de 20 pontos a Matemática (-16 na OCDE) e 15 pontos a Leitura (-11 na OCDE). Apenas a Ciências Portugal reduz menos o seu resultado face à quebra do valor médio registado à escala daquela organização (-8 pontos, que comparam com os -12 pontos da OCDE). Seja como for, em qualquer dos casos, e como assinalado no relatório nacional, estamos perante diferenças sem significado estatístico. Ou seja, não relevantes.
(...) Por isso, querer interpretar a quebra dos resultados de Portugal no PISA 2022, ignorando que essa descida ocorre em linha com a quebra registada na OCDE, em resultado do impacto da pandemia, é como esperar que alguém que se mudou para uma casa no centro da aldeia tivesse, por milagre, sido poupado a uma avalanche que sobre ela se abateu.»
O resto da crónica pode ser lido no Setenta e Quatro
quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
Manifestação pela Palestina, amanhã em Lisboa
Promovida pela CGTP-IN, pelo Conselho Português para a Paz e a Cooperação (CPPC), pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e pela Associação Projeto Ruído, a manifestação parte do Martim Moniz às 15h00, com destino ao Largo José Saramago.
Cavaco Silva e as armadilhas do neoliberalismo
Cavaco Silva regressou ao debate público com um artigo de opinião em que visa a expressão das “contas certas”, que se tornou dominante no debate sobre a política orçamental em Portugal. Para o ex-primeiro-ministro e ex-Presidente da República, “é [...] normal que os cidadãos não especialistas na matéria tenham colhido a ideia de que 'contas certas' é um objetivo primordial da política orçamental”, mas esta é “uma armadilha do poder socialista para iludir os portugueses”, que obscurece o que deveriam ser os objetivos da política orçamental: “a satisfação das necessidades sociais, […] a equidade na distribuição do rendimento e da riqueza, o combate ao desemprego, a estabilidade de preços e o crescimento económico”.
O artigo foi divulgado por toda a imprensa e foi lido com alguma surpresa, sobretudo nas redes sociais, não tanto pela crítica à governação do PS, mas pelos termos em que esta é feita. Poucos estariam à espera de ver Cavaco a defender a ideia de que o equilíbrio orçamental não deve ser um fim em si mesmo. No entanto, há truques que não escapam a uma leitura atenta.
De onde veio a obsessão com as contas certas?
Há uma crítica imediata a fazer a este artigo que passa por recordar o papel que Cavaco desempenhou na eternização da obsessão com as chamadas “contas certas”. É difícil não encontrar contradições entre a crítica atual de Cavaco à estratégia de consolidação orçamental e a posição que a direita – e o seu partido – adotou durante o programa de ajustamento da Troika e o governo de Passos Coelho, para quem as contas certas eram um objetivo inquestionável e uma “questão de regime”.O próprio Cavaco Silva, no discurso de tomada de posse do governo do PS, sublinhou que o “superior interesse nacional” passava por “preservar a credibilidade externa”, deixando claro que “exige-se ao Governo que agora toma posse que respeite as regras europeias de disciplina orçamental”. Além disso, citou um “aviso muito sério” do Conselho de Finanças Públicas que dizia que “uma política virada para o curto prazo e assente num grau minimalista de consolidação orçamental não só não cumpriria as atuais regras europeias como teria implicações negativas sobre o endividamento do País e a produtividade”. Em 2015, para Cavaco, as contas certas eram um imperativo que se impunha e o problema estava no risco de uma consolidação orçamental “minimalista”; uns anos depois, a consolidação orçamental que defendeu já é vista como uma “armadilha para iludir os portugueses”.
Quem paga as contas certas?
Uma parte dos problemas de Cavaco – e da direita portuguesa – prende-se com o facto de o PS ter abraçado a estratégia orçamental que a direita defendia, esvaziando o seu discurso. Desde que chegou ao poder, a prioridade de António Costa foi sempre a manutenção das chamadas “contas certas”: redução dos défices, numa primeira fase, e obtenção de excedentes, posteriormente. Para o conseguir, sacrificou o investimento público, que se manteve em níveis historicamente baixos ao longo de todo o período.
Houve sempre uma enorme diferença entre as promessas feitas pelo governo no início de cada ano e o valor realmente executado no fim. Entre 2017 e 2023, face aos valores orçamentados, ficaram por aplicar 5802 milhões de euros (isto se aceitarmos a previsão do próprio governo sobre a execução do investimento neste ano, que também pode não se concretizar). Não foi por falta de necessidades: no Serviço Nacional de Saúde, o desinvestimento degrada o serviço público e promove a contratação de serviços aos privados; nos transportes, a falta de investimento tem levado ao encerramento de várias linhas ferroviárias e à supressão sistemática de comboios ou autocarros; na habitação, o país continua a ter um dos mais reduzidos parques habitacionais públicos da União Europeia.
Essa estratégia tem custos para o país: além de se refletir cada vez mais na degradação dos serviços públicos, também tem impactos negativos para o conjunto da economia através da redução das despesas “amigas do crescimento”, que reforçam as infraestruturas do país e contribuem para o aumento da produtividade. Mas essa opção não se afasta substancialmente do que a direita tinha para oferecer ao país. Cavaco Silva, de resto, confirma-o quando aponta como um dos problemas fundamentais o “monstro da despesa pública”, num país em que esta era inferior à média da Zona Euro em quase todas as categorias antes da pandemia.
Os "especialistas" e as contas erradas
No entanto, o problema de fundo do artigo prende-se com a recomendação que deixa para a definição da política orçamental. Cavaco sugere que “o valor desejável para o saldo orçamental em cada ano, sendo uma restrição, deve ser determinado antes de o Governo elaborar a sua proposta de Orçamento, não por políticos, mas por um comité independente de especialistas”, que teria “em devida conta” os níveis de dívida pública e externa, a “evolução da situação económica e social do país”, as previsões económicas internacionais ou as regras orçamentais europeias.
No Twitter, a sugestão foi sublinhada por Miguel Poiares Maduro, ex-ministro do PSD, para quem estas “formas de disciplina da política” vão ser “tema fundamental da democracia nos próximos anos”. Poiares Maduro explica que a ideia é deixar “à técnica a delimitação desse espaço [orçamental] político” e que “é a lógica do BCE aplicada ao OE [Orçamento do Estado]”.
A comparação é ajustada: retirar ao Parlamento a possibilidade de definir o tipo de política orçamental que o país deve prosseguir, entregando-o a organismos não-eleitos, assemelha-se ao que já se verifica hoje no que diz respeito à política monetária. Na prática, seria mais um passo no sentido de restringir o espaço da deliberação democrática. Em vez de as decisões sobre a política orçamental do país serem tomadas pelos representantes democraticamente eleitos, passariam a ser entregues a um comité de “técnicos” que definiria o saldo orçamental e deixaria à democracia apenas a possibilidade de deliberar dentro desse limite.
A proposta de Cavaco tem raízes na tradição ordoliberal, que defendia a necessidade de criar uma ordem jurídica que impusesse limites à intervenção dos poderes públicos na economia para proteger a livre concorrência. É a visão na qual assentaram as regras orçamentais europeias, que restringiram o espaço da política orçamental dos países do Euro sob a promessa de assegurar convergência e crescimento sustentado. Mas as restrições ao investimento público necessário para a requalificação das economias periféricas acentuaram a sua vulnerabilidade face aos países mais ricos. Além disso, os pressupostos sobre os quais essas regras assentavam – o de que o peso do Estado é um entrave ao crescimento económico ou o de que o rácio da dívida pública não pode passar de um determinado nível – têm sido desmentidos pela evidência empírica.Os problemas estendem-se à própria noção de domínio “técnico” e “apolítico”. Cavaco Silva defende a utilização do saldo estrutural como variável decisiva para definir a política orçamental. Isso já acontece atualmente no contexto europeu: as regras orçamentais da UE focam-se no saldo estrutural, isto é, o saldo das receitas e despesas de um governo quando se excluem medidas extraordinárias e efeitos do ciclo económico. Para calcular os efeitos cíclicos, a Comissão Europeia mede a diferença entre o PIB registado num país e o seu PIB potencial, que seria o produto obtido se a economia estivesse no seu equilíbrio de médio prazo, descontando as fases do ciclo. Por fim, para calcular este produto, a Comissão calcula a taxa de desemprego natural (a taxa que se registaria neste equilíbrio de médio prazo e que seria o reflexo de aspetos estruturais da economia, como a “rigidez” da proteção laboral, do subsídio de desemprego, etc.).O problema é que todo o cálculo assenta em pressupostos frágeis e tem revelado enviesamentos sistemáticos. Alguns estudos recentes (aqui ou aqui) mostram que as estimativas da taxa de desemprego natural feitas pela Comissão Europeia são pró-cíclicas: dependem mais das fases de expansão e recessão económica do que de fatores estruturais do mercado de trabalho.
Se olharmos para o caso português, é isso que vemos: a estimativa da taxa "natural" de desemprego da Comissão Europeia para Portugal tem seguido uma tendência relativamente alinhada com a da taxa de desemprego real.Qual é o grande problema disto? Se se sobre-estimar sistematicamente a taxa de desemprego natural, como parece ser o caso, o PIB potencial será sistematicamente menor (uma vez que corresponde a um nível de produto atingido com menor nível de emprego dos recursos disponíveis). Logo, a diferença entre o PIB potencial e o real – o tal efeito do ciclo – é inferior ao que se esperaria, o que faz com que o défice estrutural calculado seja maior, indicando uma situação orçamental mais negativa e, por isso, um reforço das restrições impostas pela Comissão à despesa pública.
As estimativas da Comissão dizem que a economia se encontrava acima do potencial entre 2017 e 2019, o que seria sinal de um mercado de trabalho sobre-aquecido e de pressões inflacionistas. Só que a taxa de inflação em Portugal… diminuiu neste período. Todo o argumento é absurdo: não só não é credível que o suposto nível "natural" de desemprego na economia portuguesa tenha passado de 14% para 6% em poucos anos, como não há nenhuma justificação sólida para que consideremos os atuais 6% de desemprego demasiado baixos.
É preciso ter em conta que nenhuma destas variáveis é observável: todas são conceitos cuja medição envolve várias hipóteses, é alvo de enorme controvérsia e nem as principais instituições chegam a acordo sobre a melhor forma de as medir. Mas as suas consequências são bastante visíveis. Talvez não seja boa ideia deixar a política orçamental a estes “especialistas”.
A política económica não é da nossa conta?
Os objetivos da política económica deviam mesmo ser os que Cavaco Silva refere no seu artigo: satisfação de necessidades sociais, combate ao desemprego e às desigualdades e promoção do crescimento económico. Na verdade, esta foi a visão que vigorou após a 2ª Guerra Mundial e até à década de 1970, inspirada por Keynes, que tinha ideias claras sobre o assunto: “cuide-se do emprego e o orçamento cuidará de si próprio”.
O neoliberalismo substituiu-o pela defesa do Estado mínimo e pelo imperativo dos saldos orçamentais equilibrados, não apenas à direita mas também no centro-esquerda, que a seguiu um pouco por todo o mundo ocidental, de Tony Blair no Reino Unido a Bill Clinton nos EUA, passando por Portugal.
Foi este novo paradigma que sustentou a ideia de que os bancos centrais deveriam ser “independentes” – do poder democrático, entenda-se, e não de interesses privados do setor financeiro – e de que essa independência garantiria os melhores resultados. A pandemia desfez este mito: a articulação entre a política orçamental, dos Estados, e a política monetária dos bancos centrais para responder à crise mostrou que não há nada de técnico ou apolítico neste tipo de decisões. Mas existe uma direita que, não satisfeita com a perda de soberania monetária, quer também retirar à democracia a capacidade de influenciar a política orçamental. É difícil ignorar o aviso.








.png)

.png)


.png)












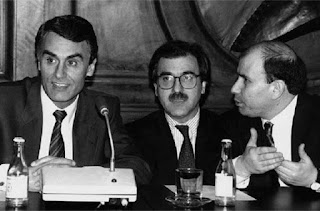













.png)
.png)
.png)
.png)

