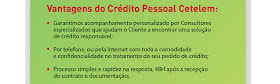quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
Vida nova?
(João Galamba, Jugular)
O ano de 2010 tornou evidente a situação a que chegámos, as suas causas mais profundas e os seus impactos mais nefastos. A insistência cega numa cartilha económica demonstradamente errada e contraproducente. Um modelo de governação europeia rendido aos interesses especulativos dos mercados. A demissão da política em todo o seu esplendor.
Quando os caminhos da necessária mudança se tornam cada vez mais óbvios, perante os repetidos fracassos das receitas estafadas (sem que quem as prescreve tenha que prestar contas ou fazer balanços), Cavaco Silva insiste que este "tempo que vivemos não é um tempo para aventuras, não é um tempo para experimentalismos ou para fantasias", mantendo intocada a postura do "bom aluno", dócil e subserviente, que não ousa questionar (nem sequer discutir) os poderes estabelecidos e o estado das coisas.
Não sabemos o que nos trazem os tempos mais próximos. Nem que capacidade terá a Europa para inverter o rumo que tem adoptado e se refundar. Mas confesso que me é difícil não supor que, às portas do 25 de Abril de 1974, o cidadão Aníbal Cavaco Silva teria muito provavelmente uma resposta semelhante, caso tivesse conhecimento de tudo o que estava a ser preparado.
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
Em 2011 logo se verá...
segunda-feira, 27 de dezembro de 2010
Mecanismos neoliberais
 Na semana passada, um secretário de estado vangloriava-se por estar a conseguir afunilar ainda mais as prestações sociais a golpes administrativos. O último editorial de Serge Halimi no Le Monde diplomatique é por isso bem oportuno: "Já se sabe qual vai ser a sua próxima etapa, pois ela já foi experimentada nos Estados Unidos: em sistemas políticos dominados pelas classes médias e altas, a amputação dos serviços públicos e das prestações sociais torna-se uma brincadeira de crianças quando as camadas privilegiadas deixam de lhes ter acesso. Quando se chega a esse momento, essas camadas consideram que tais privilégios alimentam uma cultura de dependência e de fraude, o número de beneficiário reduz-se e é-lhes imposto um controlo minucioso. Fazer com que as prestações sociais dependam dos rendimentos significa portanto, quase sempre, programar o seu desaparecimento para todos."
Na semana passada, um secretário de estado vangloriava-se por estar a conseguir afunilar ainda mais as prestações sociais a golpes administrativos. O último editorial de Serge Halimi no Le Monde diplomatique é por isso bem oportuno: "Já se sabe qual vai ser a sua próxima etapa, pois ela já foi experimentada nos Estados Unidos: em sistemas políticos dominados pelas classes médias e altas, a amputação dos serviços públicos e das prestações sociais torna-se uma brincadeira de crianças quando as camadas privilegiadas deixam de lhes ter acesso. Quando se chega a esse momento, essas camadas consideram que tais privilégios alimentam uma cultura de dependência e de fraude, o número de beneficiário reduz-se e é-lhes imposto um controlo minucioso. Fazer com que as prestações sociais dependam dos rendimentos significa portanto, quase sempre, programar o seu desaparecimento para todos."
domingo, 26 de dezembro de 2010
Uma separação amigável
 Infelizmente, pode ser já demasiado tarde para a zona euro. A Irlanda e os países do Sul da Europa têm de reduzir a dívida e melhorar muito significativamente a competitividade das suas economias. É difícil imaginar como poderão alcançar estas duas metas enquanto permanecerem na zona euro.
Infelizmente, pode ser já demasiado tarde para a zona euro. A Irlanda e os países do Sul da Europa têm de reduzir a dívida e melhorar muito significativamente a competitividade das suas economias. É difícil imaginar como poderão alcançar estas duas metas enquanto permanecerem na zona euro.Os resgates da Grécia e da Irlanda não passam de paliativos temporários: nada fazem para reduzir o endividamento, e não detiveram o contágio. Além disso, a austeridade fiscal que prescrevem atrasa a recuperação económica. A ideia de que reformas estruturais e dos mercados laborais podem produzir rápido crescimento não passa de uma miragem. A necessidade de reestruturação da dívida é uma realidade inevitável.
Mesmo que os alemães e outros credores anuam em reestruturar - não a partir de 2013, como pediu a chanceler alemã Angela Merkel, mas "já" -, subsiste ainda o problema de readquirir a competitividade. Este é um problema partilhado por todos os países com défices, mas na Europa do Sul é mais agudo. Pertencer à mesma zona monetária que a Alemanha vai condenar estes países a anos de deflação, elevado desemprego, e a agitação política nacional. Sair da zona euro poderá ser, no ponto em que as coisas estão, a única opção realista para a recuperação.
Uma ruptura na zona euro pode não a condenar para sempre. Os países poderão voltar a unir-se, e a fazê-lo de forma credível, quando forem satisfeitos os pré-requisitos fiscais, reguladores e políticos. De momento, a zona euro poderá ter atingido o ponto em que um divórcio amigável é melhor opção do que anos de declínio económico e azedume político.
Em tempo de convívio familiar, talvez haja tempo para ler devagar e reflectir sobre este texto de Dani Rodrik. Porque é mais que tempo de assentar ideias sobre o que queremos para o nosso País e para a UE.
sexta-feira, 24 de dezembro de 2010
Notem bem
Jean-Paul Fitoussi
quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
O BPN e a economia do crime
 A SLN era um grupo económico particular porque, ao contrário do que normalmente acontece, o Banco não era o centro de comando do Grupo. As fraudes do BPN foram conduzidas pela Holding e perpetradas através do recurso generalizado a quase uma centena de empresas sediadas em off-shores, como explicou um membro da administração de Miguel Cadilhe. O caso do BPN é, aliás, exemplar do ponto de vista do papel estratégico que têm os off-shores não apenas na promoção da fraude e evasão fiscais, mas também na protecção da criminalidade financeira.
A SLN era um grupo económico particular porque, ao contrário do que normalmente acontece, o Banco não era o centro de comando do Grupo. As fraudes do BPN foram conduzidas pela Holding e perpetradas através do recurso generalizado a quase uma centena de empresas sediadas em off-shores, como explicou um membro da administração de Miguel Cadilhe. O caso do BPN é, aliás, exemplar do ponto de vista do papel estratégico que têm os off-shores não apenas na promoção da fraude e evasão fiscais, mas também na protecção da criminalidade financeira.Foram essas conclusões que levaram João Cravinho a defender uma investigação sobre o papel dos off-shores no caso do BPN, da qual poderiam e deveriam ter resultado conclusões importantes para a sua extinção, um dos desígnios mais importantes, entre outros, de qualquer alternativa de política económica.
Esse é o fulcro do que se passou no BPN. Devemos punir os criminosos, criticar os reguladores mas não esquecer em momento algum que a responsabilidade última é política e consiste na criação de um quadro de regulação e fiscalização do sistema financeiro que proteja a economia, a estabilidade do sistema financeiro e os contribuintes.
Não deixa de ser revelador que, enquanto se juntam à esquerda na crítica ao processo do BPN (mas não em qualquer tipo de propostas concretas), PSD e CDS apresentem dois projectos de resolução para dar condições "mais favoráveis" (sic) ao off-shore da Madeira. Nesta matéria do BPN, a direita atira pedras porque tem telhados de vidro. Não apenas por causa das ligações de governantes de Cavaco a este banco, mas também pelas responsabilidades políticas pelo quadro legal em que operam as instituições financeiras.
Nem sempre é preciso mudar alguma coisa, para que tudo fique na mesma. Às vezes basta gritar muito. A direita faz todo o alarde que pode com a sua indignação sobre o BPN, mas as propostas concretas que agravam o problema da desregulação financeira, avança-as sorrateiramente no anonimato das comissões.
Eles não aprendem nada…
A economia do endividamento
A aceitação subserviente da subjugação da política à (ir)racionalidade dos mercados financeiros não é, pois, assunto que inquiete o político Cavaco Silva. Tal como na resposta que consta da ficha que preencheu para a PIDE (na qual Aníbal se considera «integrado no actual regime político»), poderá dizer-se que o agora candidato à presidência se considera perfeitamente “integrado no actual regime económico”. O que é preciso é "fazer o trabalho de casa" (não importam as condições decisivas de enquadramento para tal se faça). O que é preciso é tratar da vidinha.
Esta deferência para com os mercados financeiros e para com as instituições europeias encontra-se contudo em plena coerência com o modelo económico que Cavaco Silva, o "bom aluno", aceitou e preconizou para Portugal. Um modelo que assenta numa economia do endividamento, o paradigma constituído no seu consulado e que se aprofundou, há que o dizer, nas governações seguintes.
A política de habitação seguida nos governos de Cavaco Silva é, a este respeito, um exemplo lapidar. Foi de facto nos seus mandatos que se configuraram os pilares da "revolução da casa própria", um dos fenómenos mais marcantes da sociedade e da economia portuguesa nas últimas duas décadas. Isto é, a resolução da questão da habitação através dos mecanismos do mercado, através da massificação do crédito à aquisição de casa própria.
A supressão da fixação administrativa das taxas de juro em 1989, a liberalização do crédito à habitação em 1991 e a descida progressiva dos juros estabeleceram as "condições macroeconómicas" para o impulso da habitação própria, que passa a representar 76% do parque habitacional em 2001, depois de significar 66% em 1991 e apenas cerca de 47% em 1970.
Dados recentes mostram que o peso do crédito à habitação no endividamento total das famílias aumentou cerca de dez pontos percentuais nos últimos 15 anos, atingindo em 2009 quase 80% do volume global de empréstimos contraídos por particulares. A relevância destes números fica amplamente reforçada pelo facto de o endividamento ter aumentado ao longo da última década (de 54% do PIB em 1999 para 97% em 2009, conforme indicam os Relatórios de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal). Em percentagem do PIB, o endividamento das famílias com a aquisição de casa própria passa de cerca de 40% para 77% no mesmo período.
Poderá argumentar-se que assim se resolveu a questão habitacional no nosso país. Mas imediatamente verificamos que "a questão habitacional" que se resolveu foi apenas a da aquisição de casa própria pela classe média, o que não é propriamente uma verdadeira "questão habitacional". No consulado de Cavaco, os mais carenciados, as populações residentes em barracas na Área Metropolitana de Lisboa, apenas veriam atendidas as suas necessidades na sequência de uma Presidência Aberta de Mário Soares, violentíssima para com a indiferença do governo, e que obrigaria Cavaco Silva a lançar o Programa Especial de Realojamento (PER), em 1993. O Aníbal social é o da caridade, não o da política social pública.
Mas quem ganhou verdadeiramente com este modelo de política habitacional, assente no endividamento das famílias, uma vez que a democratização do acesso à habitação não resultou da diminuição do preço dos fogos (que não cessou aliás de subir entre 1995 e 2006)? Ganhou obviamente o rentismo associado aos mercados fundiário e imobiliário, que resistiram incólumes à "democratização" da casa própria. A factura, está bem de ver, foi sendo paga pelo Estado (através das bonificações e isenções fiscais à aquisição) e pelas famílias (através do endividamento junto das instituições bancárias). Num processo de alimentação da especulação imobiliária com recursos públicos, que contribuiu acrescidamente para uma absurda overdose da construção, que o rácio de quase um alojamento e meio por família, em 2001, claramente reflecte.
Agenda para a modernização do país

quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
Um governo não corta o défice

“Os governos podem cortar na despesa pública mas não podem cortar no défice. Isso depende da forma como o resto da economia reage à contracção da despesa pública.” (Ann Pettifor)
É elementar, mas é algo que não entra na cabeça dos economistas e jornalistas que falam depois das 8 da noite. Em Portugal, no Reino Unido, e por essa Europa fora.
Espero bem que o País acorde quando nos vierem dizer daqui a uns meses que afinal o défice não foi cortado e que os cortes na despesa pública inscritos no Orçamento para 2011 foram insuficientes.
Galilei, SGPS

Em Maio deste ano, a Sociedade Lusa de Negócios, à qual pertencia o BPN, mudou de nome. Passou a chamar-se Galilei. Não sei o que farão os seus descendentes para defender o bom nome da família, mas este acontecimento é tão significativo como compreensível. A SLN é o verdadeiro sujeito da mega-fraude do BPN e percebe-se que os seus accionistas não façam questão de manter o nome, quando discutem a continuação da actividade do Grupo.
Mas o facto mais importante é a própria continuação dessa actividade. Quando o Governo tomou a decisão de fazer incidir a sua intervenção (sob a forma de nacionalização) apenas sobre o BPN e não sobre a totalidade do Grupo SLN (responsabilizando todos os seus accionistas), o grande argumento era o de que as restantes empresas do grupo estavam falidas.
Na realidade, o que hoje verificamos é que os activos dessas empresas, que poderiam ter sido utilizados para, pelo menos, minimizar as perdas com o BPN, serviram para reestruturar o Grupo Financeiro que agora se prepara para prosseguir a sua actividade, como se nada se tivesse passado. Para trás, fica um buraco sem fundo à vista, para ser pago por quem não tem dinheiro para poder ser criminoso. O remédio para a fraude do BPN são os contribuintes que o vão tomar.
Mas se o remédio é amargo, a vacina, pura e simplesmente não existe. Como acontece com as várias manifestações da crise financeira, mesmo depois de tiradas as conclusões, pouco ou nada de concreto mudou na forma como funcionam os mercados financeiros. A força dos factos, a força dos argumentos não chega, por mais claros que sejam os primeiros, por mais fortes que sejam os segundos. Trata-se de um combate contra o maior poder não-democrático do planeta. E exige a completa mobilização do outro, o democrático.
Alternativas económicas europeias
terça-feira, 21 de dezembro de 2010
Onde está a imoralidade?
 Vale a pena ver o Inside Job, um bom documentário sobre a grande crise causada pelo neoliberalismo. Esquecendo um certo moralismo sobre os estilos de vida dos especuladores ou a idealização de certas elites políticas europeias, visível nas entrevistas à Ministra das Finanças francesa ou ao Director do FMI, concentro-me em três pontos fortes de um documentário simples, mas não simplista, apenas prejudicado pela legendagem. Em primeiro lugar, uma certa perspectiva que permite localizar a origem estrutural dos problemas económicos actuais nos processos de liberalização, desregulamentação e privatização financeiras iniciados nos anos oitenta e que se generalizaram à escala global nos anos noventa – dos EUA à Islândia. Um processo de financeirização gerador de crises e que contribuiu para o brutal e macroeconomicamente contraproducente aumento das desigualdades. Em segundo lugar, e porque isto nos tem interessado, o documentário sublinha bem o papel de certa ciência económica na crise. As ideias contam nos processos de transformação institucional conduzidos por interesses que se tornaram cada vez mais poderosos. Destaque para as entrevistas a economistas académicos com participação no processo político – Mishkin, Feldstein ou Hubbard: economistas que pugnaram pela liberalização financeira, pela privatização da segurança social ou pelo aumento da regressividade do sistema fiscal. É impressionante ver como não conseguem justificar os conflitos de interesse, as ligações ao sector financeiro ou os estudos por encomenda. É também notável a miopia ideológica face ao desastre eminente por parte de quem tinha responsabilidades políticas e muita influência intelectual. E em Portugal? Por que é que ninguém investiga o fascinante mundo do eixo liberal academia-consultoria-finança? Em terceiro lugar, o documentário expõe com todo o realismo o chamado “governo de Wall-Street”, as passagens dos bancos para o governo e do governo para os bancos, a captura de democratas e de republicanos, do poder político, pelo sector financeiro. Lawrence Summers nas administrações Clinton e Obama é um dos melhores exemplos de um economista de Harvard e de Wall-Street. Pena que não haja o mesmo escrutínio sobre a UE: 15000 lobbyistas em Bruxelas, 12000 em Washington. Em Portugal temos o espírito santo e outros donos do país. Particularmente interessante é a parcialidade do sistema judicial. Ao contrário da narrativa que circula em Portugal sobre a justiça nos EUA e a sua celeridade em julgar os Maddoffs, a incapacidade em investigar a fundo um sistema de predação financeira é bem sublinhada. O poder do dinheiro concentrado corrói sempre as instituições públicas. A origens da imoralidade do sistema financeiro, de que fala Helena Garrido, da ganância financeira, estão nas estruturas da finança de mercado, nas estruturas construídas ao longo de três décadas de hegemonia neoliberal, mas as reformas progressistas parecem bloqueadas por todo o lado. Quantas mais crises teremos de suportar?
Vale a pena ver o Inside Job, um bom documentário sobre a grande crise causada pelo neoliberalismo. Esquecendo um certo moralismo sobre os estilos de vida dos especuladores ou a idealização de certas elites políticas europeias, visível nas entrevistas à Ministra das Finanças francesa ou ao Director do FMI, concentro-me em três pontos fortes de um documentário simples, mas não simplista, apenas prejudicado pela legendagem. Em primeiro lugar, uma certa perspectiva que permite localizar a origem estrutural dos problemas económicos actuais nos processos de liberalização, desregulamentação e privatização financeiras iniciados nos anos oitenta e que se generalizaram à escala global nos anos noventa – dos EUA à Islândia. Um processo de financeirização gerador de crises e que contribuiu para o brutal e macroeconomicamente contraproducente aumento das desigualdades. Em segundo lugar, e porque isto nos tem interessado, o documentário sublinha bem o papel de certa ciência económica na crise. As ideias contam nos processos de transformação institucional conduzidos por interesses que se tornaram cada vez mais poderosos. Destaque para as entrevistas a economistas académicos com participação no processo político – Mishkin, Feldstein ou Hubbard: economistas que pugnaram pela liberalização financeira, pela privatização da segurança social ou pelo aumento da regressividade do sistema fiscal. É impressionante ver como não conseguem justificar os conflitos de interesse, as ligações ao sector financeiro ou os estudos por encomenda. É também notável a miopia ideológica face ao desastre eminente por parte de quem tinha responsabilidades políticas e muita influência intelectual. E em Portugal? Por que é que ninguém investiga o fascinante mundo do eixo liberal academia-consultoria-finança? Em terceiro lugar, o documentário expõe com todo o realismo o chamado “governo de Wall-Street”, as passagens dos bancos para o governo e do governo para os bancos, a captura de democratas e de republicanos, do poder político, pelo sector financeiro. Lawrence Summers nas administrações Clinton e Obama é um dos melhores exemplos de um economista de Harvard e de Wall-Street. Pena que não haja o mesmo escrutínio sobre a UE: 15000 lobbyistas em Bruxelas, 12000 em Washington. Em Portugal temos o espírito santo e outros donos do país. Particularmente interessante é a parcialidade do sistema judicial. Ao contrário da narrativa que circula em Portugal sobre a justiça nos EUA e a sua celeridade em julgar os Maddoffs, a incapacidade em investigar a fundo um sistema de predação financeira é bem sublinhada. O poder do dinheiro concentrado corrói sempre as instituições públicas. A origens da imoralidade do sistema financeiro, de que fala Helena Garrido, da ganância financeira, estão nas estruturas da finança de mercado, nas estruturas construídas ao longo de três décadas de hegemonia neoliberal, mas as reformas progressistas parecem bloqueadas por todo o lado. Quantas mais crises teremos de suportar?
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
A austeridade não nos tira da crise

Estas políticas [de austeridade] que efectuam cortes nas despesas do orçamento reduzem a dinâmica salarial, reduzem o emprego público e, por conseguinte, travam o consumo. Reduz-se a procura no preciso momento em que as empresas estão em subprodução, em que o desemprego é elevado, em que portanto temos uma capacidade industrial e humana subaproveitada. Apenas se aprofunda o desequilíbrio. E os que dizem que o estado já não dispõe dos meios para fazer orçamentos de relance esquecem que, quando os salários são baixos, os impostos são baixos e as receitas do orçamento fracas. É muito desagradável estar numa situação de endividamento [excessivo] mas é preciso não esquecer que não foi o endividamento público que nos levou a esta situação difícil.
Esta é uma crise de endividamento privado. E foi para evitar uma crise financeira da dimensão da dos anos 30 que os governos tiveram de aumentar a dívida pública. Entre os dois males escolheram o menor. Este endividamento público, que era indispensável, não pode agora ser reabsorvido em menos de dez a quinze anos. Por conseguinte, deveríamos pensar num horizonte de médio prazo e admitir o aumento dos salários [mais baixos] no imediato para relançar a economia. Porém, neste ponto, defrontamo-nos com o que os economistas chamam um “problema de coerência inter-temporal”: o tempo político não é o tempo da economia, seria preciso um plano coerente para quinze anos. Não para os próximos dois anos. (Extracto de uma entrevista com um investigador do OFCE. Ler na íntegra aqui.)
Tudo seria mais fácil se a ideologia da saída da crise pelo esmagamento dos salários não dominasse a Comissão, o Conselho e o Banco Central da União Europeia. Sendo assim, qual é a taxa de desemprego que estamos dispostos a aceitar para preservar/recuperar a imagem do “bom aluno” na UE? Todos os partidos deveriam ser confrontados com esta questão.
Lição antiga
Em traços grossos, a lição retira-se do desmantelamento da regulamentação dos mercados financeiros. Sem baias, a propensão do sector financeiro foi para, em enxame, apostar em produtos financeiros sem cobertura de activos. A miragem de lucros exponenciais funcionou até que se quebrou um dos elos - os empréstimos subprime. A "bolha" rebentou, as instituições financeiras ficaram com os balanços a descoberto e alguns Estados foram chamados a financiar os "buracos" para evitar o contágio à economia real. Mas o aperto geral do crédito repercutiu-se em recessão. Os Estados endividaram-se nos mercados financeiros de dívida pública, alguns foram forçados a programas de austeridade e acabaram na mão das agências de rating, financiadas pelo próprio sector financeiro. Pelo caminho, os pobres foram ficando mais pobres e os ricos mais ricos.
Algo assim aconteceu no início do século XX. Aconteceu no início do século XXI. E nada está a mudar.
domingo, 19 de dezembro de 2010
Flexinsegurança
 Como ilustra este gráfico, quanto maior é a centralização da negociação salarial entre patrões e sindicatos menores tendem a ser as desigualdades salariais. O “fórum”, que substitui o “mercado”, ou seja, a correlação de forças dentro de cada empresa, é sempre mais igualitário. A ideia liberal do governo – “pretende-se aumentar a competitividade do mercado de trabalho, através da adopção de mecanismos de descentralização da contratação colectiva, privilegiando a negociação de base empresarial” – é parte da política de fragilização dos sindicatos, de aumento da discricionariedade patronal, empresa a empresa, e de aumento das desigualdades salariais. O sucesso laboral do “modelo nórdico” assentou em instituições de negociação colectiva facilitadas por elevadas taxas de sindicalização. Isto também favoreceu coligações em defesa do Estado social universal. Este é o segredo do seu relativo igualitarismo. A Dinamarca, por exemplo, com metade das desigualdades salariais de Portugal, gastava, em 2007, 45 000 euros por desempregado; Portugal gastava 8 000 (valores ajustados ao poder de compra). Por isso é que o ex-primeiro ministro dinamarquês Poul Rasmussen, o da flexisegurança, deixou um aviso sensato quando esteve em Portugal: “Se em Portugal decidem de um dia para o outro cortar a protecção laboral, arriscam-se a que tudo o resto não se chegue a realizar. E os empregos precários tornam-se na regra da economia”. Reduzir direitos laborais e cortar nas prestações sociais é a receita para o desastre laboral, gerando os incentivos para uma variedade de capitalismo cada vez medíocre. A constelação de instituições e de políticas que geram empregos decentes, apontada pelo economista do trabalho David Howell, fica cada vez mais distante. De resto, os países com estruturas negociais mais robustas, mecanismos de partilha e maior protecção laboral e social dos trabalhadores parecem ter aguentado melhor o embate destrutivo da crise em termos de emprego.
Como ilustra este gráfico, quanto maior é a centralização da negociação salarial entre patrões e sindicatos menores tendem a ser as desigualdades salariais. O “fórum”, que substitui o “mercado”, ou seja, a correlação de forças dentro de cada empresa, é sempre mais igualitário. A ideia liberal do governo – “pretende-se aumentar a competitividade do mercado de trabalho, através da adopção de mecanismos de descentralização da contratação colectiva, privilegiando a negociação de base empresarial” – é parte da política de fragilização dos sindicatos, de aumento da discricionariedade patronal, empresa a empresa, e de aumento das desigualdades salariais. O sucesso laboral do “modelo nórdico” assentou em instituições de negociação colectiva facilitadas por elevadas taxas de sindicalização. Isto também favoreceu coligações em defesa do Estado social universal. Este é o segredo do seu relativo igualitarismo. A Dinamarca, por exemplo, com metade das desigualdades salariais de Portugal, gastava, em 2007, 45 000 euros por desempregado; Portugal gastava 8 000 (valores ajustados ao poder de compra). Por isso é que o ex-primeiro ministro dinamarquês Poul Rasmussen, o da flexisegurança, deixou um aviso sensato quando esteve em Portugal: “Se em Portugal decidem de um dia para o outro cortar a protecção laboral, arriscam-se a que tudo o resto não se chegue a realizar. E os empregos precários tornam-se na regra da economia”. Reduzir direitos laborais e cortar nas prestações sociais é a receita para o desastre laboral, gerando os incentivos para uma variedade de capitalismo cada vez medíocre. A constelação de instituições e de políticas que geram empregos decentes, apontada pelo economista do trabalho David Howell, fica cada vez mais distante. De resto, os países com estruturas negociais mais robustas, mecanismos de partilha e maior protecção laboral e social dos trabalhadores parecem ter aguentado melhor o embate destrutivo da crise em termos de emprego.
sábado, 18 de dezembro de 2010
Auditoria à dívida pública
sexta-feira, 17 de dezembro de 2010
Uma parte menos falada da crise de competitividade
O gráfico abaixo torna clara a situação portuguesa: sendo um país de dimensão média no contexto da UE, Portugal tem uma intensidade exportadora típica de um país de grandes dimensões (situação que só tem paralelo no caso grego).

No início da década 1960, o peso das exportações no PIB português era pouco superior a 10%. A adesão à EFTA – a primeira etapa de integração europeia de um país até então fortemente autárcico – elevou as exportações para cerca de 20% do PIB. Com a adesão à CEE, o peso das passou para perto de 30% do PIB, mantendo esse valor basicamente inalterado desde 1990. Esta estagnação contrasta com outros países europeus de dimensões semelhantes (como a Suécia, a Áustria, a República Checa e ou Hungria) que se encontravam então em patamares semelhantes, mas onde o peso das exportações no PIB cresceu de forma contínua.
Encontramos explicações para este fenómeno em factores internos e em factores externos. Em toda a década de 1990 foram criadas as condições para incentivar o desenvolvimento dos sectores não exportadores em Portugal:
- a obsessão com as auto-estradas (iniciada no período cavaquista) assegurou a lucratividade do sector da construção e obras públicas;
- a queda abrupta das taxas de juro (no período de preparação da adesão ao euro) acentuou o impulso aos sectores da construção e do imobiliário, contando com a passividade – ou o gáudio – dos governantes;
- na mesma linha, o crédito ao consumo, associado a um aumento dos rendimentos médios e a uma política favorável à expansão das grandes superfícies, conduziu ao forte crescimento da grande distribuição;
- as privatizações, centradas em empresas quase-monopolísticas em sectores relativamente protegidos, atraíram os capitais da burguesia nacional para empresas que viviam essencialmente do mercado interno (EDP, GALP, PT, BRISA, etc.);
- as estratégia de política industrial do PSD e do PS, assente na promoção das empresas (recentemente privatizadas) que se alimentam do mercado interno (e que pouco exportam), visando criar grupos económicos de dimensão internacional, traduziu-se frequentemente em condições desfavoráveis para os sectores transaccionáveis (e.g., preços de energia e telecomunicações demasiado elevados);
- aproveitando a liberalização financeira, as privatizações e a explosão imobiliária, o sistema financeiro canalizou uma parte crescente dos seus recursos para o financiamento de sectores não transaccionáveis (onde os níveis de risco são reduzidos) e para as aplicações financeiras (onde os retornos potenciais em períodos especulativos são elevados), desviando o crédito dos sectores transaccionáveis;
- finalmente, a convergência nominal para a moeda única significou uma sobrevalorização cambial, que desincentivou o investimento em sectores exportadores.
Neste contexto, não admira que em Portugal os principais grupos económicos se encontrem sistematicamente nos sectores da banca (BES, BPI, BCP, etc.), da grande distribuição (Jerónimo Martins, SONAE), da Construção (Mota-Engil, Teixeira Duarte, etc.), das telecomunicações (PT), da energia (EDP, GALP) ou das concessões (BRISA e muitas das empresas atrás referidas) – ou seja, em sectores que se alimentam do escasso mercado nacional – e raramente em sectores fortemente expostos à concorrência internacional. Isto, claro está, diz-nos muito não apenas sobre as opções políticas dominantes, mas também sobre o espírito empreendedor do capitalismo nacional.
Já no novo século, a abertura comercial da UE à China, o alargamento a Leste, a apreciação do euro face ao dólar e o aumento dos preços do petróleo, deterioraram ainda mais a capacidade competitiva de economias como a nossa.
Assim, a crise de competitividade da economia portuguesa não encontra as suas raízes estruturais no funcionamento do mercado de trabalho ou na 'burocracia', como de alguma forma sugere a recentemente anunciada Iniciativa para a Competitividade e o Emprego. Dito isto (e ficando atento às alterações à lei laboral que vêm à boleia da 'necessidade de reformas'), a prioridade que é atribuída aos sectores transaccionáveis é uma boa intenção - que só peca por vir com 20 anos de atraso. Mas ela valerá de pouco (i) se ao nível da UE não forem tomadas medidas que favoreçam a recuperação da competitividade de economias mais expostas à concorrência dos países emergentes (nomeadamente, apoios à transformação estrutural e permissão de auxílios de Estado aos sectores exportadores), (ii) se o sistema financeiro não fôr colocado ao serviço do sector exportador e (iii) se não se puser um fim à captura do Estado português pelos interesses dos grupos económicos actualmente dominantes.
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
Europeísmo crítico II
«É a paralela, estúpido»
Num dos recentes Prós e Contras (que mostrou aliás como um verdadeiro debate não é propriamente uma missa), Medina Carreira vaticinou uma vez mais a "morte" do país, enquanto resultado da insustentável situação das finanças públicas. O vendilhão permanente do apocalipse puxou dos números que cuidadosamente guarda (e que lhe permitem manter o seu nicho de mercado na comunicação social) e declarou que “a economia nos últimos quinze anos cresceu 1.8% por ano. A despesa primária cresceu o dobro, 3.5. E as prestações sociais cresceram 6% ao ano”. A sangria da economia paralela, que obrigaria a refazer radicalmente esta comparação, é excluída da equação do desastre apresentada por Medina Carreira. Não, o que é preciso é acabar com o Estado e, de forma particular, com o Estado social.
Daniel Bessa, outro iluminado economista do regime (também ele tão cheio de certezas quanto de incongruências), afina pelo mesmo diapasão, sugerindo em entrevista recente que “a economia está a ser aniquilada pelo Estado social”. Para além da dicotomia absurda que postula que o Estado social não é parte integrante da economia, Bessa ignora também (deliberadamente ou por pura cegueira ideológica), o peso que a economia paralela representa no desequilíbrio das contas públicas. Promover o combate à fuga de receitas não faz parte da sua visão para o país. O que importa é cortar no Estado social.
Imagine-se uma quinta, propriedade dos agricultores Medina e Bessa. A quinta tem um poço, um motor de rega e uma área de cultivo com diversos legumes. A água necessária para a rega mostra-se aparentemente insuficiente. Medina e Bessa discutem quais os legumes a sacrificar, e em que escala. Não reparam, ou não querem reparar, que o poço tem água suficiente para toda a área cultivada, que pode aliás ser expandida. Porque não reparam, ou não querem reparar, que o problema se encontra no motor, a funcionar apenas a cerca de 75% da sua capacidade efectiva de captação de água.
quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
Pequenas heresias #2: Microcrédito
 A minha primeira posta nesta série de pequenas heresias suscitou uma forte crítica por parte de Paulo Pedroso. Entre outras coisas, considera que a minha avaliação da funcionalidade, para a agenda neoliberal, do discurso e prática em torno da inovação social padece de “marxismo mecanicista”; e acusa-me de ignorar o facto de numerosas inovações sociais terem tido um impacto importante na vida de muitas pessoas e comunidades concretas.
A minha primeira posta nesta série de pequenas heresias suscitou uma forte crítica por parte de Paulo Pedroso. Entre outras coisas, considera que a minha avaliação da funcionalidade, para a agenda neoliberal, do discurso e prática em torno da inovação social padece de “marxismo mecanicista”; e acusa-me de ignorar o facto de numerosas inovações sociais terem tido um impacto importante na vida de muitas pessoas e comunidades concretas.Pela minha parte, considero que Paulo Pedroso acerta na barra, pois é incapaz de rebater os meus dois argumentos principais: por um lado, a ideia da progressiva transformação do debate em redor da ‘inclusão social’ numa problemática cada vez mais técnica e menos política; por outro lado, a tese de que o elogio da descentralização da política social, que acompanha habitualmente o discurso acerca da inovação social, deslegitima a acção do Estado e legitima a sua reengenharia em moldes neoliberais. Não se trata de rejeitar liminarmente tudo o que é feito sob a bandeira da inovação social – trata-se, isso sim, de questionar criticamente os aspectos perversos do discurso e da prática.
O mesmo vale para o microcrédito, sobre o qual incide a segunda posta nesta série. Em que consiste, afinal? Fundamentalmente, na criação de mecanismos que permitem o acesso ao crédito para investimento por parte de indivíduos que, em condições normais, não lhe conseguiriam aceder devido a não possuírem bens susceptíveis de constituírem garantias reais. No contexto dos países do Sul, especialmente em meios rurais, estes mecanismos assentam tipicamente na concessão de empréstimos a grupos de indivíduos, que se tornam responsáveis de forma solidária pelo pagamento das dívidas. Nalguns casos mais louváveis (como o da Associação Nacional de Direito ao Crédito, aqui em Portugal), a intervenção vai além da criação de mecanismos que permitam superar esta falha de mercado, incluindo também o acompanhamento dos novos negócios por parte de agentes de microcrédito – acompanhamento esse que na prática acaba por constituir uma forma de formação profissional.
Indivíduos pobres e excluídos, com boas ideias de negócio, sem possibilidade de acesso ao crédito pelas vias normais, a quem o microcrédito permite ultrapassar este obstáculo inicial de modo a conseguirem ‘criar riqueza’ por si mesmos. Na maioria dos casos (especialmente no caso seminal do Banco Grameen e das iniciativas nos países do Sul), os beneficiários são mulheres. As taxas de incumprimento são em geral mais baixas do que as caracterizam as linhas de crédito ‘normais’. Como é que o microcrédito não há-de agradar a todos? É solidário, inclusivo e ‘progressista em matéria de género’, o que agrada à esquerda. Assenta na responsabilidade, no empreendedorismo e na recusa da subsídio-dependência, o que agrada à direita. Então qual é o problema?
Infelizmente, os problemas são vários, no discurso e na prática. Em primeiro lugar, concentra todas as atenções numa única falha de mercado, à qual atribui a responsabilidade pelos problemas de pobreza e exclusão e em cuja superação faz assentar as esperanças de um mundo mais justo e inclusivo. Como se a desigualdade e a exclusão adviessem de falhas do mercado e não da própria lógica de funcionamento do modo de produção. Em segundo lugar, assenta muitas vezes numa falácia de composição, evocando uma sociedade composta por uma imensidade de micro-empresários rumando heroicamente em direcção ao desenvolvimento. Acontece, infelizmente (desculpem lá o marxismo mecanicista…), que a lógica interna da pequena produção mercantil é incompatível com o rápido desenvolvimento das forças produtivas, pelo que está longe de poder ser essa a ‘solução’ para o subdesenvolvimento à escala de toda uma sociedade (ainda que Mohammed Yunus não se abstenha de sugerir essa possibilidade no seu livro mais conhecido). Em terceiro lugar, esquece-se de salientar o facto de que todo o crédito é também uma dívida. Quando a ideia de negócio falha, como muitas inevitavelmente falham, as consequências para os indivíduos mais pobres, que entretanto passaram a ter em cima de si o encargo adicional da dívida, tornam-se ainda mais dramáticas. Em quarto lugar, o microcrédito de carácter mais benigno (mais próximo da tradição das mutualidades de crédito, ou que se faz acompanhar por acompanhamento e formação) tem sido incapaz de impedir a entrada em jogo de um outro tipo de microcrédito, puramente predatório - novas formas da banca comercial aceder a segmentos de mercado ainda por explorar, de forma a ‘banqueirizá-los’ e assim alargar a sua base de expropriação financeira, cobrando juros e comissões especialmente elevados e externalizando para o terceiro sector a responsabilidade pela selecção e supervisão dos clientes. Em quinto lugar, há muitas vezes uma relação de substituição entre estratégias de actuação na área social. O problema é que apenas uma pequena parte das situações de pobreza e exclusão social são ultrapassáveis através do microcrédito, pois só uma pequena parte dos pobres e excluídos o são em resultado de não conseguirem aceder ao crédito comercial normal.
Bem intencionado, louvável e eficaz nalguns casos, sem dúvida. Mas também, muitas vezes, eivado de perversidades reais e potenciais. Recusemos por isso o unanimismo e questionemo-lo criticamente. Hereticamente, se necessário.
Europeísmo crítico
Em Portugal, o romance europeu das elites, o dos amanhãs europeus que cantam sempre, acabou. Basta ter visto Freitas e Soares, dois convictos europeístas, ontem na TVI24. Defenderam a necessidade das periferias baterem o pé ao eixo franco-alemão de Merkel e Sarkozy e pugnarem por uma reconfiguração progressista da integração europeia. Silva Peneda, presidente do conselho económico e social, já tinha sublinhado a necessidade de uma iniciativa diplomática das periferias para fazer face à dominação do centro. Até Santos Silva se junta ao coro, embora o governo nada diga ou faça sobre isto, como bem assinalou o Rui Tavares. O europeísmo crítico ganha terreno aos poucos? Já não era sem tempo. O silêncio de Cavaco, sempre com muito respeitinho em relação aos “mercados” e aos mais poderosos, é revelador. Uma parte da direita está disposta a tudo para impor o seu projecto de regressão socioeconómica à boleia das potências do centro que só pensam em salvar os seus bancos? Manuel Alegre, por sua vez, foi quem introduziu o tema da iniciativa diplomática das periferias na agenda política. Há alternativas. As alternativas na zona euro são claras. O economista Dani Rodrik, que não é um eurocéptico e que tem aplicado o seu trilema da economia política internacional à crise europeia, defende agora que, tudo o resto constante, só nos resta, às periferias, sair do euro. Seria a única forma de se evitar uma austeridade contraproducente, reestruturar a dívida e recuperar a competitividade perdida. Continuo a achar que a saída pelo aprofundamento da integração europeia, corrigindo a sua assimetria, é mais razoável, mas os obstáculos políticos são de monta. Resta saber se ainda há margem para a escolha. Não há tempo a perder. É altura de lutar concertadamente contra uma austeridade e uma especulação que estão a desfazer o projecto europeu.
Publicado no arrastão
terça-feira, 14 de dezembro de 2010
Alarmismo não é informação

No passado domingo, o Público ofereceu aos leitores um dossiê sobre “os custos da saída do euro”. Na segunda página apresenta uma súmula de declarações dos economistas José Silva Lopes e João Ferreira do Amaral. O essencial das suas opiniões resume-se assim: “Cenários bons para Portugal, não há neste momento. Há cenários maus e menos maus.”
A importância do tema requeria um tratamento isento e especializado, o que não foi o caso. O título da primeira página sugere desde logo ao leitor que uma saída do euro é garantidamente um caos. Nem sequer uma forte possibilidade, uma certeza. Contudo, o fundamento que é dado ao leitor para essa certeza é apenas a opinião desses dois economistas e o exemplo da Argentina.
Por muito respeitável que seja a opinião de Silva Lopes, a verdade é que as poucas linhas publicadas em discurso directo não nos mostram os pressupostos em que se baseou para dizer que “a curto prazo seria o caos completo”. Uma decisão dessa natureza teria de ser convenientemente preparada, mantida em sigilo, e executada com rapidez e determinação, por forma a impedir a fuga de capitais e a corrida aos bancos. Isso implicaria o seu controle público durante algum tempo. Aliás, com a experiência adquirida na introdução da moeda única, deve ser possível uma passagem rápida e organizada para o escudo. É certo que, mesmo com um controle administrativo dos preços bem apertado, a inflação seria inicialmente elevada. Mas a breve trecho tenderia a ficar controlada como ilustra a recente experiência da Islândia. O grande problema seria sem dúvida o congelamento do financiamento externo. Estariam a China, o Brasil, e alguns fundos soberanos disponíveis para ajudar durante algum tempo?
O caso Argentino é mal invocado neste dossiê. O caos que este país viveu foi sobretudo causado pela aplicação, durante anos, das políticas de austeridade preconizadas pelo FMI para defender a paridade com o dólar. Um erro que foi prolongado ao pretender manter-se a mesma política cambial já depois da renúncia ao pagamento da dívida externa. A decisão de reestruturar a dívida, negociando o seu valor e reescalonando os pagamentos, teria de ser acompanhada de uma desvalorização que estimule fortemente a reorientação da produção nacional para os bens transaccionáveis. Só assim haveria crescimento gerador de receita fiscal para começar a amortizar a dívida. Pena é que o Público não tenha sabido questionar Silva Lopes sobre o fundamento das suas dúvidas relativamente à eficácia deste mecanismo.
Finalmente, o dossiê não aborda duas questões centrais: 1) Que produtos e mercados podem sustentar um crescimento do PIB rebocado pelas exportações após a recessão em que o País vai cair em 2011? 2) Como é que se consegue amortizar dívida pública em recessão ou, na melhor da hipóteses, com um crescimento anémico por vários anos? Ficaremos ligados à ajuda da UE/FMI por uma década?
Os economistas entrevistados ignoraram estas questões (não colocadas) o que é bem revelador da ambiguidade das suas opiniões. É que Espanha, França e Alemanha representam mais de metade das nossas exportações e, como se sabe, um empresário não muda de mercados como quem muda de camisa. E, por outro lado, para manter o nível da dívida e pagar apenas os juros a uma taxa de 5% (inferior à da ajuda da UE/FMI) Portugal teria de apresentar um excedente orçamental primário já em 2012 da ordem dos 5% (ver aqui, uma estimativa por alto). Como é isto possível num contexto de câmbios fixos como é o euro na prática?
Como se vê, mesmo a nossa melhor imprensa ainda tem muito que caminhar para fazer jornalismo sério. Algo que é incompatível com afirmações do tipo “Qualquer regresso [ao escudo] seria algo muito próximo da tragédia.” (Editorial do Público)
Regras para uma economia civilizada
James Galbraith
Um salário mínimo que garanta a recuperação do poder de compra dos trabalhadores mais pobres, como foi negociado em 2006 na concertação social, é uma dessas regras que contribui para criar uma economia civilizada, ainda por cima quando se estima, cálculos do Ricardo, o impacto nos custos das empresas. Perante a pouca vergonha patronal-governamental, que recusa um aumento mensal de 25 euros para o próximo ano, a CGTP enviou uma carta à ministra do trabalho, exigindo a marcação urgente de uma reunião da concertação social. Fez muito bem. E depois ainda há quem tenha a lata de dizer que a CGTP despreza a concertação social...
segunda-feira, 13 de dezembro de 2010
Há sempre alternativas
 De qualquer forma, a reestruturação acontecerá, no actual contexto europeu, mais tarde ou mais cedo, gerando imediatamente um aumento das taxas de juro da dívida pública dos países periféricos, sobretudo dos mais pequenos, onde as possibilidades de especular e lucrar com a volatilidade são maiores. A intenção do eixo franco-alemão era esta? Parece que sim, visto que está apostado numa estratégia de dominação disciplinadora, que não cuida do facto de o problema das finanças públicas ser geral e ser consequência sobretudo da crise económica que foi, em grande medida, atenuada pelo efeito dos chamados estabilizadores automáticos, ou seja, da quebra das receitas e aumento das despesas. Esquece-se que é impossível um esforço simultâneo de poupança pública e privada sem uma contracção da economia, particularmente num contexto de défice externo estrutural, reflexo de uma integração dependente. A redução do défice público sem crescimento económico só se consegue com um aumento simétrico dos "défices" privados ou com um extraordinário aumento da procura externa, e estas alternativas são muito difíceis no actual contexto. Num cenário de reestruturação da dívida liderada pelos credores, acompanhada por uma austeridade sem fim e por reformas do mercado de trabalho penalizadoras dos trabalhadores, a situação tornar-se-á insustentável. O contexto internacional de crescimento medíocre não permitirá qualquer saída pelas exportações (…) A alternativa é agora clara: ou o "Sul" se rebela ou o Sul é esmagado.
De qualquer forma, a reestruturação acontecerá, no actual contexto europeu, mais tarde ou mais cedo, gerando imediatamente um aumento das taxas de juro da dívida pública dos países periféricos, sobretudo dos mais pequenos, onde as possibilidades de especular e lucrar com a volatilidade são maiores. A intenção do eixo franco-alemão era esta? Parece que sim, visto que está apostado numa estratégia de dominação disciplinadora, que não cuida do facto de o problema das finanças públicas ser geral e ser consequência sobretudo da crise económica que foi, em grande medida, atenuada pelo efeito dos chamados estabilizadores automáticos, ou seja, da quebra das receitas e aumento das despesas. Esquece-se que é impossível um esforço simultâneo de poupança pública e privada sem uma contracção da economia, particularmente num contexto de défice externo estrutural, reflexo de uma integração dependente. A redução do défice público sem crescimento económico só se consegue com um aumento simétrico dos "défices" privados ou com um extraordinário aumento da procura externa, e estas alternativas são muito difíceis no actual contexto. Num cenário de reestruturação da dívida liderada pelos credores, acompanhada por uma austeridade sem fim e por reformas do mercado de trabalho penalizadoras dos trabalhadores, a situação tornar-se-á insustentável. O contexto internacional de crescimento medíocre não permitirá qualquer saída pelas exportações (…) A alternativa é agora clara: ou o "Sul" se rebela ou o Sul é esmagado.Excerto do artigo "Depois do fim do romance europeu", escrito com o Nuno Teles e a Eugénia Pires, dois dos autores dos relatórios do Research on Money and Finance sobre a crise europeia, e publicado este mês no Le Monde diplomatique - edição portuguesa.
Debater a outra economia
Manuel Alegre
Eu e José Reis estaremos hoje a trocar umas ideias sobre estes assuntos na sede de campanha de Manuel Alegre em Coimbra a partir das 21h30m. Apareçam.
domingo, 12 de dezembro de 2010
Para lá das dores de cabeça
 A propósito de um artigo de Cavaco, defendo, no arrastão, que as nossas dores de cabeça também são da responsabilidade da economia do medo que está em Belém. Entretanto, a CC dá destaque a uma entrevista de Maria João Rodrigues (MJR) ao DN onde esta defende o óbvio: reduzir salários não é um bom caminho, ao contrário do que defendem os globetrotters dos conselhos de administração dos grandes grupos económicos como Nogueira Leite. Pena é que a redução de salários no público e no privado seja também a aposta das políticas de austeridade governamentais. Basta ler o relatório do orçamento e as declarações de Teixeira dos Santos para perceber qual é a lógica da política económica em curso. Por isso, entendo o comentário da CC como uma autocrítica: é que este PS que perdeu o s também já fez a sua escolha. MJR, por sua vez, termina bem a entrevista: "Eu não tenho medo das palavras: Portugal devia ter uma política industrial, um dos grandes erros da história recente é não ter havido um discurso público claro nessa matéria." Seja bem-vinda...
A propósito de um artigo de Cavaco, defendo, no arrastão, que as nossas dores de cabeça também são da responsabilidade da economia do medo que está em Belém. Entretanto, a CC dá destaque a uma entrevista de Maria João Rodrigues (MJR) ao DN onde esta defende o óbvio: reduzir salários não é um bom caminho, ao contrário do que defendem os globetrotters dos conselhos de administração dos grandes grupos económicos como Nogueira Leite. Pena é que a redução de salários no público e no privado seja também a aposta das políticas de austeridade governamentais. Basta ler o relatório do orçamento e as declarações de Teixeira dos Santos para perceber qual é a lógica da política económica em curso. Por isso, entendo o comentário da CC como uma autocrítica: é que este PS que perdeu o s também já fez a sua escolha. MJR, por sua vez, termina bem a entrevista: "Eu não tenho medo das palavras: Portugal devia ter uma política industrial, um dos grandes erros da história recente é não ter havido um discurso público claro nessa matéria." Seja bem-vinda...Leituras complementares: Não há competitividade no sector privado sem boas políticas públicas; Política industrial; Portugal Tecnológico; Do Estado Predador ao Estado Estratego.
Não há economia que sustente este sistema financeiro
 A Moody's, depois da Standard & Poor's, colocou “sob vigilância” os bancos portugueses - BPI, BCP, BES, CGD e Santander. Diz que estão demasiado dependentes do Banco Central Europeu e que ficarão mais frágeis com as "medidas de austeridade por parte do Governo e o seu impacto na qualidade dos activos bancários".
A Moody's, depois da Standard & Poor's, colocou “sob vigilância” os bancos portugueses - BPI, BCP, BES, CGD e Santander. Diz que estão demasiado dependentes do Banco Central Europeu e que ficarão mais frágeis com as "medidas de austeridade por parte do Governo e o seu impacto na qualidade dos activos bancários". Isto é, a Moody's acha que os cortes salariais, a redução das prestações sociais e dos serviços públicos, podem fazer com que muitas famílias portuguesas, endividadas ao limite com os seus créditos à habitação, entrem em incumprimento junto dos bancos. Acha também que os bancos ao executarem as hipotecas (os tais activos de qualidade duvidosa) irão lançar no mercado casas em excesso e com isso fazer descer o preço das habitações ao ponto de não conseguirem recuperar o valor do crédito concedido.
A Moody’s tem portanto dúvidas, diz o DN, “quanto ao futuro dos negócios dos bancos portugueses” e, para completar o bolo com a cereja que falta, admite mesmo a “necessidade de um apoio estatal” aos bancos. Desta forma, a situação dos bancos torna-se numa boa razão não só para descer a notação dos bancos, como a da própria dívida soberana.
Aqui temos, um porta voz “dos mercados” que descobre que as medidas de austeridade, por serem recessivas, reduzem a credibilidade dos bancos e do Estado português. Será que ainda nos falta assistir a um governo português (este ou o próximo) que, a pretexto da restauração da credibilidade, nos venha com uma nova factura de bancos “grandes demais para falir”? Não é possivel, pois não?
sábado, 11 de dezembro de 2010
Livros que duram e duram...
 O economista Dani Rodrik, o do trilema da economia política internacional, da política industrial como processo de descoberta, da defesa das virtudes dos controlos de capitais, seleccionou os seus "cinco melhores livros" sobre globalização num sítio dedicado precisamente a opiniões sobre os "cinco melhores livros" em várias áreas. Isto há de tudo. Entre os cinco está A Grande Transformação de Karl Polanyi, escrito em 1944. Todos os outros são relativamente recentes, obras de economistas-historiadores, cientista político e filósofo. Boas razões para as escolhas. Aposto que, dos cinco escolhidos, continuaremos a falar sobretudo de A Grande Transformação em várias disciplinas e para lá delas: economia política e moral dos capitalismos e dos pós-capitalismos, como já aqui defendi numa página e em muitas mais noutros sítios. A tradução impõe-se em tempos que ainda são de capitalismo utópico em alguns lados, mas que podem também já ser de contra-movimento de protecção das bases de uma sociedade viável, de reincrustração democrática da economia, noutros.
O economista Dani Rodrik, o do trilema da economia política internacional, da política industrial como processo de descoberta, da defesa das virtudes dos controlos de capitais, seleccionou os seus "cinco melhores livros" sobre globalização num sítio dedicado precisamente a opiniões sobre os "cinco melhores livros" em várias áreas. Isto há de tudo. Entre os cinco está A Grande Transformação de Karl Polanyi, escrito em 1944. Todos os outros são relativamente recentes, obras de economistas-historiadores, cientista político e filósofo. Boas razões para as escolhas. Aposto que, dos cinco escolhidos, continuaremos a falar sobretudo de A Grande Transformação em várias disciplinas e para lá delas: economia política e moral dos capitalismos e dos pós-capitalismos, como já aqui defendi numa página e em muitas mais noutros sítios. A tradução impõe-se em tempos que ainda são de capitalismo utópico em alguns lados, mas que podem também já ser de contra-movimento de protecção das bases de uma sociedade viável, de reincrustração democrática da economia, noutros.
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010
Socializar custos
Daniel Bessa aponta o caminho

Na sua grande entrevista ao Público, Daniel Bessa assume como intocável o quadro institucional em que a economia portuguesa se encontra. Tudo o mais constante, diz-nos que o caminho para tranquilizar os credores é uma austeridade muito mais severa do que a contida no Orçamento de 2011.
Se o leitor quiser ter uma ideia muito concreta do que isso significa, repare nesta síntese sobre a evolução recente da economia grega:
“A Grécia ultrapassou a primeira inspecção à execução do seu plano de reestruturação conduzida pela Troika (constituída pelo Banco Central europeu (BCE), União europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI)). O facto é que não tinham escolha dado que o dinheiro [a nova fatia do empréstimo] tinha mesmo de ser entregue para permitir à Grécia continuar a funcionar.
Apesar de algum progresso, a economia grega resvalou para uma recessão profunda pondo em causa o plano de recuperação. À medida que o governo implementou as medidas de austeridade, a economia grega encolheu cerca de 3 a 4%. O governo está aquém da meta no seu programa de redução do défice de mais de 13% para 8%. As receitas dos impostos sobre o rendimento estão fracas, crescendo 3,3% -- bem abaixo do objectivo de 12,7%. Isto acontece apesar do aumento da taxa do IVA para 23%. Confrontado com uma economia em colapso, desemprego crescente, um número cada vez maior de gregos que abandona o país, e a agitação social, o governo grego foi ao ponto de anunciar um corte na taxa de impostos sobre os lucros das empresas de 24% para 20%. Como é que isto vai ajudar a corrigir o défice orçamental é ainda um mistério.”
É este tipo de programa que Daniel Bessa nos aponta como o caminho para tranquilizar os credores e sairmos da crise. Por conseguinte, deduz (com toda a lógica) que o mergulho na recessão que nos espera em 2011 (se colectivamente nada fizermos por uma alternativa) exigirá novos cortes na despesa pública: [em recessão] “só tranquilizo os mercados, se aparecer com défice zero [em 2012]”. Mas, passados seis meses, constatando que a receita fiscal se degradou por aprofundamento da recessão, serão precisos mais cortes, … e assim sucessivamente até fecharem os hospitais, as escolas e os tribunais por falta de pagamento dos consumos correntes?
Impõe-se pois a pergunta: como é que a economia sai desta espiral deflacionista? Sobre isso, Daniel Bessa não diz nada. Mas pode adivinhar-se que está à espera do milagre das exportações, porventura estimuladas pelo aumento das margens de lucro à custa de reduções nos salários sob a ameaça de despedimento fácil e barato. Quando todos os países querem vencer a crise pelas exportações!
Como de costume, também este ideólogo neoliberal nos vem dizer que “Não podemos é resolver com política questões que são económicas.” Uma ideia falsa, porém muito conveniente quando se trata de instilar na opinião pública a resignação. A crise como problema técnico a resolver pelos 'bons' economistas.
Obviamente, que há uma alternativa: negociar com os credores uma substancial redução da dívida (de qualquer forma isso já é inevitável) e violar todas as normas da ortodoxia económica como faz a Islândia. A saída do euro já não pode ser um tabu político, antes uma alternativa que deve ser abertamente discutida e ponderada.
Mas deixemos Daniel Bessa com os seus suspiros por uma democracia suspensa para que se possa cortar a direito nas despesas sociais e baixar ainda mais os salários, talvez mesmo eliminar o salário mínimo (“Noutros tempos, resolvia-se com uns militares...”).
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
Consultor do capitalismo de desastre
 Uns dizem que o “país prejudica a banca”, os outros, como o economista “leninista” Daniel Bessa, o das engenharias políticas rumo a uma capitalismo cada vez mais medíocre, dizem que o Estado social aniquila a economia. É sempre ao contrário, claro. A banca prejudica o país e foi o Estado social, apesar do seu subdesenvolvimento, que impediu que a economia privada afundasse ainda mais. O que eles querem sei eu: reconfigurar o Estado para o transformar em definitivo num comité executivo dos assuntos do capital financeiro e dos grupos económicos rentistas, ávidos por continuar a capturar sectores, como a saúde, onde os lucros estão garantidos. Foi a pensar em economistas como Bessa que escrevi, quando colaborava semanalmente com o i, uma crónica sobre os consultores do capitalismo de desastre. Já repararam que estes consultores da crise como oportunidade andam todos à volta de Cavaco? É toda uma economia política e moral que nos trouxe até aqui...
Uns dizem que o “país prejudica a banca”, os outros, como o economista “leninista” Daniel Bessa, o das engenharias políticas rumo a uma capitalismo cada vez mais medíocre, dizem que o Estado social aniquila a economia. É sempre ao contrário, claro. A banca prejudica o país e foi o Estado social, apesar do seu subdesenvolvimento, que impediu que a economia privada afundasse ainda mais. O que eles querem sei eu: reconfigurar o Estado para o transformar em definitivo num comité executivo dos assuntos do capital financeiro e dos grupos económicos rentistas, ávidos por continuar a capturar sectores, como a saúde, onde os lucros estão garantidos. Foi a pensar em economistas como Bessa que escrevi, quando colaborava semanalmente com o i, uma crónica sobre os consultores do capitalismo de desastre. Já repararam que estes consultores da crise como oportunidade andam todos à volta de Cavaco? É toda uma economia política e moral que nos trouxe até aqui...
Pedalar em Coimbra
Não há competitividade no sector privado sem boas políticas públicas

Pedro Santos Guerreiro, no Jornal de Negócios
A pressão para acabar com o pouco que resta da protecção do trabalho na legislação laboral não pára de se intensificar e o Governo já mostrou o seu empenho em cumprir com as "recomendações". A campanha da Comissão Europeia, para além de exorbitar completamente do seu mandato (foi decidido onde que é função da UE promover a "flexibilização das relações laborais"?), tem motivações estritamente ideológicas.
Não é que um apoio das empresas a estas medidas as legitimasse, mas não deixa de ser extraordinário que, num momento em que vários empresários se multiplicam em declarações contra os aumentos da energia, a Comissão Europeia continue obcecada com uma ainda maior precarização das relações de trabalho. E falando de um país em que o despedimento colectivo está à distância de um e-mail. De facto, a única coisa que falta fazer nesse domínio é torná-lo ainda mais barato, coisa que o Governo já pôs em cima da mesa, imediatamente secundado pela UGT(!).
A estratégia de facilitar os despedimentos tem, aliás, efeitos completamente contra-producentes do ponto de vista do ajustamento orçamental que, teoricamente, preocupa a Comissão Europeia. O desemprego é, apenas e só, a variável mais importante na degradação das contas públicas, pelo que significa de riqueza não produzida, impostos não pagos e necessidades de despesa social. Além disso, a depressão da procura provocada pela compressão salarial, associada ao aumento do desemprego e fragilização das posição contratual dos trabalhadores, agrava o ciclo recessivo da nossa economia.
Bem melhor seria que o Governo promovesse a competitividade através da redução dos custos das empresas com a energia. Essa estratégia seria possível se o sector da energia, sendo público como deveria ser, fosse dirigido tendo em conta as necessidades do conjunto da economia. Em vez disso, temos uma empresa privada que usa a sua posição de monopólio para obter margens fabulosas, construídas sobre as ruínas das empresas que abrem falência todas as semanas.
A morbidez intelectual de que se tem falado neste blog tem aqui um dos seus expoentes mais marcantes. O preconceito ideológico contra as políticas públicas e o papel do Estado em sectores estratégicos da economia cega aqueles que enchem a boca com a necessidade de promover a competitividade das nossas empresas. À falta de melhor ou à falta de outra coisa, só querem ser terceiro mundo.
Há alternativas ao beco sem saída que nos propõe a Comissão Europeia. Não há competitividade, não há sector exportador, sem políticas públicas: na energia, nas comunicações, no acesso ao crédito, no apoio à inovação e formação. E não há políticas públicas fortes sem recursos adequados. Quem anda a vender o Estado mínimo, não tem soluções para o Estado, mas também não tem soluções para as empresas.
quarta-feira, 8 de dezembro de 2010
Tempo de heterodoxias
 A economia da Islândia do incumprimento da dívida, dos controlos de capitais e da desvalorização cambial está a recuperar. Só a heterodoxia económica funciona. Não admira por isso que o historiador económico irlandês Kevin O'Rourke, co-autor de Power and Plenty, tenha escrito uma Carta de Dublin, terminando a defender que a Islândia, ao optar democraticamente pelo incumprimento da dívida, “é um modelo óbvio para nós”. O’Rourke sublinha a maciça e assimétrica transferência de custos sociais da crise para os cidadãos irlandeses. Tal transferência, engendrada pela Comissão e pelo BCE, com a cumplicidade de um governo que viu aprovado mais um orçamento de desastre, foi desenhada para tentar salvar os credores, o capital financeiro dos países centrais, e assegura mais recessão e desemprego na Irlanda e nas periferias. Esta é a face da União Europeia hoje existente, um projecto bloqueado e, na ausência de alterações radicais na sua configuração, sem qualquer futuro. Meegan Grene, analista da Irlanda da Economist Inteligence Unit, defende, em artigo no Financial Times, que a Irlanda saia do euro. Costas Lapavitsas, Eugénia Pires e Nuno Teles já tinham apontado, em artigo no Público de 28 de Março, esse cenário como a segunda alternativa das periferias perante uma União que seria politicamente incapaz de criar um verdadeiro governo económico solidário do euro: “A segunda alternativa para os países periféricos é o abandono da zona euro, que resultaria na desvalorização das moedas nacionais, reestruturação da dívida denominada em moeda estrangeira e imposição de controlos de capitais. Para proteger a economia, a banca teria de ser nacionalizada e o controlo público alargado aos sectores estratégicos. Neste contexto, uma política industrial, promotora do aumento da produtividade, seria crucial.”
A economia da Islândia do incumprimento da dívida, dos controlos de capitais e da desvalorização cambial está a recuperar. Só a heterodoxia económica funciona. Não admira por isso que o historiador económico irlandês Kevin O'Rourke, co-autor de Power and Plenty, tenha escrito uma Carta de Dublin, terminando a defender que a Islândia, ao optar democraticamente pelo incumprimento da dívida, “é um modelo óbvio para nós”. O’Rourke sublinha a maciça e assimétrica transferência de custos sociais da crise para os cidadãos irlandeses. Tal transferência, engendrada pela Comissão e pelo BCE, com a cumplicidade de um governo que viu aprovado mais um orçamento de desastre, foi desenhada para tentar salvar os credores, o capital financeiro dos países centrais, e assegura mais recessão e desemprego na Irlanda e nas periferias. Esta é a face da União Europeia hoje existente, um projecto bloqueado e, na ausência de alterações radicais na sua configuração, sem qualquer futuro. Meegan Grene, analista da Irlanda da Economist Inteligence Unit, defende, em artigo no Financial Times, que a Irlanda saia do euro. Costas Lapavitsas, Eugénia Pires e Nuno Teles já tinham apontado, em artigo no Público de 28 de Março, esse cenário como a segunda alternativa das periferias perante uma União que seria politicamente incapaz de criar um verdadeiro governo económico solidário do euro: “A segunda alternativa para os países periféricos é o abandono da zona euro, que resultaria na desvalorização das moedas nacionais, reestruturação da dívida denominada em moeda estrangeira e imposição de controlos de capitais. Para proteger a economia, a banca teria de ser nacionalizada e o controlo público alargado aos sectores estratégicos. Neste contexto, uma política industrial, promotora do aumento da produtividade, seria crucial.”
Acabar com a segmentação do mercado de trabalho
terça-feira, 7 de dezembro de 2010
Teoria crítica
Bancos públicos?
Martin Wolf
Adenda. Entretanto, Vicenç Navarro oferece pistas, convergentes com o que temos defendido, para superar o estreito debate europeu sobre a disciplina dos mercados: imitar a Reserva Federal e o Banco do Japão, transformando o BCE num verdadeiro banco central que compra maciçamente dívida pública e usar os recursos públicos não para salvar os bancos, mas sim para criar bancos públicos, regressando à boa paisagem bancária europeia de tempos de prosperidade partilhada, antes da instituição do regime neoliberal gerador de crises financeiras recorrentes. Um tempo com sistemas financeiros muito mais controlados e funcionais. Temos de regressar ao futuro tal como propõe a New Economics Foundation.
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
Não foi o despesismo do Estado que gerou esta crise
 Ao contrário da retórica dos economistas que nos endoutrinam depois das 8 da noite, é preciso insistir num ponto essencial: a chamada “crise da dívida soberana” não foi provocada pelo despesismo público. O caso da Grécia é uma excepção que, por si só, não produziria esta crise não fora a existência de uma outra dívida na periferia da UE que esses economistas colocam em segundo plano. De facto, foi a dívida privada que originou esta crise europeia (ver este artigo de Paul De Grauwe), e é a arquitectura institucional da Zona Euro que a agrava.
Ao contrário da retórica dos economistas que nos endoutrinam depois das 8 da noite, é preciso insistir num ponto essencial: a chamada “crise da dívida soberana” não foi provocada pelo despesismo público. O caso da Grécia é uma excepção que, por si só, não produziria esta crise não fora a existência de uma outra dívida na periferia da UE que esses economistas colocam em segundo plano. De facto, foi a dívida privada que originou esta crise europeia (ver este artigo de Paul De Grauwe), e é a arquitectura institucional da Zona Euro que a agrava.Claro que os défices públicos também aumentaram na sequência da Grande Recessão, mas esse aumento deveu-se a causas bem conhecidas que não podem ser rotuladas de despesismo: a recessão que fez disparar os estabilizadores automáticos (mais despesa com subsídios sociais e menos receitas fiscais), o gasto público de estímulo à economia nos termos acordados com a Comissão Europeia e (no caso de Portugal, Espanha, e sobretudo Irlanda) o resgate de bancos insolventes. Tivesse havido continuidade na política expansionista iniciada pela UE em 2008 (e, no mínimo, tivesse regulamentado a especulação “a descoberto”), hoje estaria em condições de solucionar os casos da Grécia e da Irlanda com custos sociais suportáveis.
Mas a doutrina monetarista atacou em força em 2009 e levou os decisores políticos, incluindo socialistas e sociais-democratas, a aceitar que com esses défices expansionistas a Europa corria um sério risco de hiperinflação. Com uma capacidade produtiva longe do pleno emprego, o receio era absurdo mas a verdade é que, aos primeiros sinais de retoma do crescimento do PIB, os media deram o palco aos economistas que clamavam pelo fim das medidas de estímulo e pela urgência de medidas de austeridade. Uma doutrina com pressupostos errados (agentes económicos dotados de informação perfeita e racionalidade calculatória infalível, capaz de antecipar e neutralizar os efeitos das políticas económicas num horizonte de muitos anos) só podia levar a decisões erradas. A recessão não só nunca terminou (para mim, os milhões de cidadãos entretanto lançados no desemprego contam para a definição de recessão) como está a agravar-se com a generalização da austeridade. Discretamente, o FMI já o assume (ver aqui, antepenúltimo parágrafo).
A dívida privada que causou esta crise é a consequência da grande disparidade de nível de desenvolvimento que existe entre o centro da UE (liderado pela Alemanha) e a sua periferia (Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, Países Bálticos e Hungria). Com taxas de juro baixas, e com toda a força permitida ao marketing bancário, foi fácil aplicar os excedentes financeiros do “centro” em endividamento do sector privado na “periferia”. A incapacidade para competir num mercado aberto com as importações dos países com salários de subsistência afectou profundamente a indústria da “periferia” e encaminhou os empresários mais ricos para os lucrativos negócios abrigados dessa concorrência (actividade financeira, telecomunicações, grande distribuição, centros comerciais, imobiliário, energia, etc.).
Assim, o endividamento da classe média da “periferia” não foi mais do que uma ilusão de melhoria do nível de vida que foi vendida pela finança europeia com a cumplicidade dos seus governos, do Banco Central Europeu e das suas antenas nacionais. Estas autoridades dispunham de meios para travar este processo, mas não quiseram prejudicar o negócio dos seus amigos da finança. Apesar dos enormes lucros que esta distribuiu aos accionistas, e dos escandalosos bónus que pagou a administradores e directores, os governos, a Comissão Europeia e o BCE continuam a adiar a inevitável reestruturação das dívidas (privadas e públicas) da Grécia e da Irlanda com penalização dos credores. Como também adiam uma inevitável escolha política: (1) avançar para uma governação federal do euro, o que obrigaria a construir uma federação política (“não há impostos sem eleições”) ou … (2) reconfigurar a Zona Euro tornando-a mais reduzida.
Indiferentes à retórica de negação dos dirigentes políticos, os especuladores acabarão por provocar uma qualquer decisão, não necessariamente a melhor como se imagina. O que é imoral é que as classes mais desfavorecidas, e alguns segmentos da classe média, estão a pagar por uma crise que não produziram, nem sequer como titulares de dívidas.