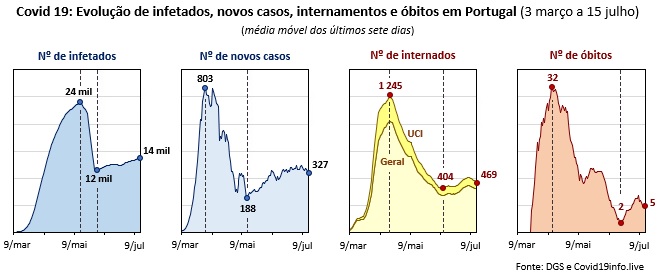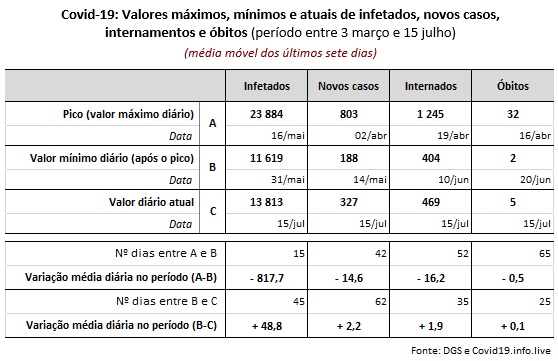A última semana trouxe a debate a crescente ingerência do dinheiro das grandes empresas privadas na universidade pública. O tema veio a discussão na sequência de uma notícia na revista Sábado, que dava nota da tentativa, por parte do conselho de catedráticos da NOVA SBE, de impedir que os seus docentes indicassem a sua filiação institucional nos seus artigos de opinião. A fixação da regra, soube-se, não era inocente. Susana Peralta, docente da instituição com afirmação crescente no espaço da opinião portuguesa, assinara um artigo onde criticava a EDP, importante financiadora do novo campus da faculdade.
Este episódio, chocante pelo que representa na ameaça da independência académica, é apenas a face mais visível de uma longa relação de proximidade entre os maiores interesses privados e políticos e a faculdade de economia da Universidade Nova, como bem assinalou João Rodrigues (
aqui). No que se refere a esta faculdade, essa ligação é estrutural, representa a mimetização do modelo anglo-saxónico no contexto da universidade pública portuguesa e é uma ameaça ao ensino superior entendido como nivelador das oportunidades no contexto de uma sociedade democrática.
Aquando da saída da notícia, tive a oportunidade de elogiar o ISEG por, ao contrário de tentar impor o monolitismo de pensamento dos seus docentes, ter lançado uma publicação onde se orgulha da pluralidade de pensamento que alberga (
aqui). Nessa publicação periódica são listados todos os artigos de opinião que os seus docentes assinaram nesse período, numa demonstração de valorização da intervenção cívica da academia no espaço público.
Mas reconhecer a virtude de ações presentes não pode deixar cair no esquecimento ações passadas cujos efeitos para a reputação das instituições se fazem sentir ainda hoje.
A suspensão de funções de António Mexia e João Manso Neto, por iniciativa judicial, torna oportuno lembrar que também o ISEG ensaiou a sua subjugação à pequena elite económica portuguesa.
Entre 2012 e 2013, o ISEG concedeu seis doutoramentos Honoris Causa. Quatro desses doutoramentos foram para figuras peculiares. Três foram concedidos a figuras que estavam então ligadas ao topo da estrutura da EDP. António Mexia, Presidente Executivo, Eduardo Catroga, Chairman, e António de Almeida, Presidente da Fundação EDP. O restante foi concedido a Ricardo Salgado, então Presidente do BES.
A escolha chocou porque constituía um corte profundo com os critérios que até então tinham sido definidos pela faculdade para a atribuição deste grau. Nos seus mais de 100 anos de história, o ISEG só havia atribuído esta distinção a personalidades de elevado prestígio internacional, tais como Tinbergen, Fraçois Perroux, Stiglitz ou Amartya Sen, ou nacional, caso de José Silva Lopes e Manuela Silva.
As razões para esta mudança de critério e para concessão de tão elevado número de doutoramentos honoris causa com estes contornos continuam um mistério. Mas há interpretações possíveis. A mais benigna sugere que se terá tratado de um deslumbramento ao discurso da modernidade que impunha uma maior ligação entre a universidade e a sociedade. Este discurso, embora tenha elevado poder persuasor junto de alguns setores, tem apenas o efeito de aumentar a vulnerabilidade das universidades públicas aos interesses privados que nela circulam. É falsa e enferma de uma ingenuidade típica daqueles que se rejeitam a ver as instituições como o que elas realmente são: espaços de permanente disputa de poder. A segunda interpretação, menos benigna, sugere que alguns dos responsáveis pela decisão aguardassem pequenas facilidades no plano do seu posicionamento empresarial e político vindos dessas figuras, que sabiam influentes. Esta interpretação, colocada em termos suficientemente crípticos para evitar acusações de difamação, não deve, porém, ser descartada.
Com os olhos do presente, sabemos os resultados desta decisão. O ISEG, uma instituição de elevado prestígio no ensino da economia em Portugal, tem uma mancha descredibilizadora sobre o seu nome, ao ver dois dos seus doutores honoris causa envolvidos em escândalos de corrupção. Essa mancha poderia ter sido evitada se os critérios de exigência para a atribuição deste grau se tivessem mantido durante esses anos.
Ufano e sem sinal de pudor continua o responsável maior pela atribuição destas distinções. João Duque, então presidente do ISEG, prossegue despreocupado a sua ação de papagaio-mor do reino, vertendo teses sobre os mais variados temas, em tom frequentemente moralista. Que não haja um jornalista que o confronte com o sucedido é um enorme mistério.
Se existem faculdades com uma relação duradoura com os interesses privados em Portugal, como a NOVA SBE, também há faculdades que têm sabido resguardar a sua independência, como o ISEG, mas que não estão isentas de flirts passados que mancham a sua respeitabilidade no presente.
Com efeito, e porque o que se atribui também se pode retirar, é urgente que o ISEG considere retirar os doutoramentos honoris causa que atribuiu a Ricardo Salgado e a António Mexia. Sob pena de se distinguir em mais um ranking internacional, desta vez como (provavelmente) a única faculdade cujos dois doutores honoris causa acabaram acusados em processos de corrupção.